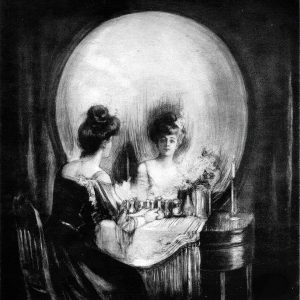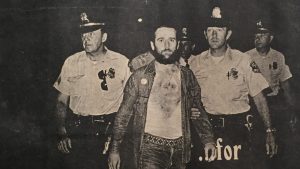Trabalhadores a esticar a corda
Uma maneira de olhar para a política é imaginar uma arena, onde vários agentes em tensão procuram o seu espaço. Quem tem mais força consegue empurrar os outros para mais longe do centro, aumentando a área disponível. Há, quase sempre, muitas forças antagónicas a empurrar para vários lados, mas é possível simplificar um pouco as coisas e imaginar um mundo dividido entre os que têm mais, e são por isso mais fortes, e os que têm menos. Às vezes, a luta faz-se contra o Estado, mas o princípio mantém-se: há uma luta para ganhar terreno. E, sim, muitas vezes o terreno mede-se em dinheiro.
Um bom exemplo desse tipo de jogo da corda está nas greves e na forma como elas são usadas pelos trabalhadores para conseguir melhorar as suas condições. Nos últimos meses, têm-se multiplicado as notícias sobre paralisações de professores, médicos e enfermeiros. E não é só em Portugal.
É, aliás, interessante olhar para o Reino Unido para entender melhor o que está em jogo. O Brexit, a guerra e uma série de políticas de desinvestimento público ajudaram a incendiar uma fogueira que tem feito este país assistir nos últimos meses a greves como já não se via há pelo menos uma década. Quem se tem manifestado? Professores, médicos e enfermeiros do NHS (o Serviço Nacional de Saúde britânico), trabalhadores dos transportes e guardas de fronteiras estão entre aqueles que têm aderido aos protestos por melhores salários, reivindicando aumentos que, no mínimo, possam ajudar a compensar uma inflação que ultrapassa os 10%.
O que têm em comum todos estes trabalhadores, além das crescentes dificuldades em fazer face ao aumento do custo de vida? São trabalhadores públicos. E isso não é um pormenor. O estatuto dá-lhes um poder extra face a outros cidadãos mais precários: quando decidem parar em protesto, sabem que perdem o dia de trabalho, mas dificilmente perderão o emprego.
O Governo britânico sente esse poder na pele à medida que as paralisações se sucedem, deixando sectores inteiros no caos e muitos outros cidadãos à beira de um ataque de nervos por se verem subitamente sem transporte, sem escola onde deixar os filhos ou sem acesso a cuidados de saúde.
O primeiro-ministro inglês, Richi Sunak, já disse lamentar não ter “uma varinha mágica” que possa usar para aumentar salários no sector público sem aumentar impostos. Mas há um truque que tem na manga: uma proposta de legislação – ainda a ser trabalhada no Parlamento – para restringir o direito à greve.
O passe de mágica que tirará força aos trabalhadores públicos passa pela imposição de serviços mínimos que, a não serem cumpridos, poderão levar ao despedimento por justa causa. Mas há mais: a proposta prevê que seja possível processar os sindicatos que não cumpram a lei, obrigando-os a indemnizar empresas e serviços públicos em função dos danos causados pela greve.
Na verdade, este é só mais um passo num caminho iniciado na década de 1980 por Margaret Thatcher para travar as greves dos mineiros, tornando mais difícil fazer uma paralisação legal e retirando poder aos sindicatos.
Uma relação desigual e um direito sob ameaça
A relação entre os que trabalham e aqueles que os empregam é profundamente desigual. Tendemos a esquecer-nos disto, mas é importante não o perdermos de vista, sobretudo quando avaliamos uma das (poucas) armas que estão do lado dos mais fracos e que é esta paragem em protesto para reclamar direitos.
É aqui que entra a difícil ponderação entre o direito à greve e a criação de serviços mínimos que procurem manter alguma normalidade. Essa é uma discussão que se está a travar em Portugal, em torno da prolongada greve por tempo indeterminado dos professores, mas também em França, onde quatro ex-trabalhadores da RTE enfrentam uma acusação em tribunal pelo crime de intervenções consideradas fraudulentas na rede eléctrica francesa no Verão passado, durante uma greve.
Sébastien Ménesplier, secretário-geral da CGT Énergie, fala numa “cabala” e denuncia ao jornal Le Télégramme uma “criminalização de actos de greve em curso nas empresas” francesas. As acções destes grevistas puseram em causa a distribuição de energia, mas o advogado dos acusados, Jérôme Karsenti, nota que o que é aqui relevante é a forma como a RTE decidiu agir contra os trabalhadores. Em vez de lhes mover um processo disciplinar, recorreu ao tribunal penal. “O processo escolhido demonstra uma vontade de sancionar o movimento social e de criar um exemplo para aterrorizar os assalariados que tenham a veleidade de fazer reivindicações”, frisa o jurista.
Quando dois lados dispõem de armas tão desiguais, qual é a fronteira ética da greve? O STOP (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação) tem alimentado essa discussão em Portugal ao promover fundos de greve para, por exemplo, compensar os auxiliares que aderem ao protesto e cuja falta é muito mais sentida do que a dos docentes, uma vez que obriga muitas vezes ao encerramento das escolas. Este não é um tema consensual nem sequer dentro dos sindicatos, com a Fenprof a criticar esta forma de luta.
A pergunta impõe-se: os trabalhadores devem recorrer a todos os meios legais (mesmo que no limite da legalidade) para aumentar a sua força? Ou devem jogar segundo as regras institucionais, mesmo que isso se traduza em apenas pequenos ganhos de causa? A resposta está longe de ser evidente, mas talvez seja importante para a reflexão olhar para a forma como a sociedade vê estes protestos, uma vez que isso pode aumentar ou diminuir a força de quem luta.
Greves que, afinal, são populares
Felizmente para os trabalhadores públicos ingleses, há outra força a jogar a seu favor no seu braço-de-ferro com o Governo. As sondagens mostram um inesperado apoio público às greves. Um inquérito da empresa Public First diz que 59% dos inquiridos apoiam a luta dos enfermeiros, 43% estão solidários com os professores, 41% são favoráveis à greve dos correios e 36% entendem as queixas dos ferroviários.
Não é o único estudo que dá nota de um aumento de apoio popular à contestação. No início de Fevereiro, a Sky News revelou uma sondagem na qual 37% dos inquiridos disseram estar do lado dos sindicatos. Um aumento em relação a Novembro, quando eram 35% os que apoiavam a luta sindical.
Estes dados são particularmente interessantes porque são contra intuitivos. Em geral, tendemos a pensar que as greves do sector público provocam um efeito de desgaste na população, que se vê privada do acesso a serviços essenciais, mas também um ressentimento em relação ao poder reivindicativo dos trabalhadores públicos, que quase nunca tem paralelo no sector privado (pelo menos quanto à estabilidade laboral).
É cedo para tirar conclusões sobre o que isto pode significar. Mas talvez nada disto possa ser desligado de uma tendência que nasceu com a pandemia e que ganhou força sobretudo nas camadas mais jovens um pouco por todo o mundo.
Falamos de quiet quitting ou até do que, nos Estados Unidos, ficou conhecido como the great resignation, quando milhares de trabalhadores deixaram os seus empregos por entenderem que eles não lhes davam o suficiente para viver uma vida digna ou que implicavam uma perda de qualidade de vida que não estavam dispostos a aceitar.
Estes fenómenos são típicos de países do primeiro mundo e tendem a ter um impacto tanto maior quanto mais dinâmica for a economia, uma vez que (pelo menos em teoria) uma maior oferta de postos de trabalho dá aos trabalhadores um maior poder. Mas não devemos descartar estas dinâmicas como meras atitudes de jovens mimados, que não estão dispostos a fazer sacrifícios pelo trabalho.
O termo ‘recursos humanos’ é desumanizante?
Na verdade, devemos repensar toda a retórica em torno do trabalho. Oiçamos o que tem a dizer um jovem francês de 24 anos, operário fabril que, ao microfone do Le Journal de 8h da France Inter, comenta o pacote salarial e de vantagens que uma PME do Vale do Rôhne, está a oferecer. “Pessoalmente, não me sacrificaria, nem na vida pessoal nem na minha saúde, por uma empresa que não me respeita”, diz sobre o salário de três mil euros líquidos que negociou, criticando as empresas que se mantêm “no antigo mundo”. Para este jovem, é preciso mudar o paradigma das relações laborais: “o próprio termo ‘recursos humanos’ é hiperdesumanizante”, defende.
Este jovem operário talvez seja beneficiário de um dos efeitos da pandemia: a percepção de que a economia não pode depender de cadeias de abastecimento tão longas que se tornem demasiado vulneráveis. Essa tendência fez com que muitas empresas tenham abdicado de um modelo centrado na produção quase exclusiva na China.
Uma “corrida laboral para o fundo” e um canibalismo empresarial
Esta deslocalização da produção continua, apesar de tudo, a seguir um modelo que procura os mais baixos salários e, claro, os trabalhadores com menores poderes reivindicativos, para que esteja garantido o custo mais baixo possível do trabalho.
Curiosamente, isso está a levar empresas chinesas a montar grandes fábricas no México, por exemplo na região de Nueva León, para estar mais perto do mercado norte-americano, mantendo-se num local onde os custos laborais não são muito diferentes dos chineses, sendo a diferença compensada pela redução de custos logísticos e aduaneiros.
A história é contada pelo especialista em economia global do The New York Times, Peter S. Goodman, que lembra que nesse estado mexicano o desemprego ronda os 3% e os sindicatos preservam algum poder. O que nos faz questionar sobre durante quanto tempo ou através de que formas vão estas empresas chinesas garantir que os salários não sobem.
Em qualquer caso, o mais frequente é assistir a ameaças de deslocalização naquilo a que o economista João Rodrigues chama “arbitragem laboral” e que, num texto para o jornal Setenta e Quatro, define como uma forma de as empresas atirarem “os trabalhadores de diferentes países uns contra os outros, numa corrida laboral para o fundo”.
O resultado, conclui Rodrigues, é um nivelar por baixo, que só serve para esmagar os salários. “Num contexto de globalização neoliberal, a situação laboral piora muito nos países com condições de trabalho mais favoráveis e não melhora nos países mais pobres. Por outras palavras, a convergência nunca se faz por cima”, frisa.
Aquilo de que aqui se fala é de poder. E, como nota o economista Joseph Stiglitz, no livro Pessoas, poder e lucro, tende-se a falar pouco de poder quando se fala de economia, mas ele é um conceito central para perceber as forças do mercado.
Stiglitz descreve “o debilitado poder de mercado dos trabalhadores” em economias em que é fácil aos empregadores substituírem quem se despede e nas quais os sindicatos têm vindo a perder força.
“O enfraquecimento dos sindicatos”, escreve o antigo presidente do Conselho Económico da Administração Clinton e ex-vice-presidente do Banco Mundial, “eliminou a capacidade sindical de travar os abusos das administrações a nível interno, entre eles os dos gestores que pagam salários exorbitantes a si mesmos, não só às custas dos trabalhadores, mas também do investimento nas respectivas empresas, assim colocando em risco o futuro delas”.
Ou seja, Stiglitz chama a atenção para um fenómeno de canibalismo empresarial, no qual os accionistas usam os dividendos para se remunerarem em vez de investirem em investigação e desenvolvimento, um modelo que só é viável se as empresas aumentarem de forma desproporcionada o seu poder de mercado, através de sistemas de monopólio e cartelização. Ou seja, quem está na metade de baixo não é só esmagado como trabalhador, também perde poder de escolha enquanto consumidor.
Os trabalhadores identificaram o seu “inimigo”?
Se voltarmos à imagem da arena em que as várias forças se empurram, podemos perceber que os trabalhadores estão do lado dos que se viram forçados a recuar mais, nos últimos anos, perdendo espaço de poder. Essa não terá, contudo, de ser uma perda irremediável.
Como vemos através das greves em França contra o aumento da idade da reforma, das paralisações do sector público no Reino Unido por aumentos salariais ou do braço-de-ferro entre professores e Ministério da Educação que por cá se joga, há um (inesperado?) apoio popular a lutas que, apesar de tudo, são disruptivas para o funcionamento da sociedade.
Veja-se a sondagem da Universidade Católica para o Público, RTP1 e Antena 1, publicada a 25 de Fevereiro, que pôs os portugueses a dar notas ao Governo e aos sindicatos de docentes. Numa escala de zero a 20, o Executivo chumbou com 7,7 valores e os sindicatos acabaram o exame com 11 valores. Mais significativo: 72% dos que responderam vêem como positiva a atitude dos sindicatos nas negociações com o Ministério da Educação e 84% consideram “justas” as reivindicações dos professores.
Note-se: esta sondagem aconteceu depois de três meses de uma greve decretada pelo STOP e depois de 18 dias de greves distritais convocadas pela Fenprof, com os consequentes encerramentos de centenas de escolas.
Temos, portanto, uma sociedade que sofre as consequências de uma greve e, ainda assim, a entende. Este não é um ponto negligenciável. Porque isso dá poder aos que protestam, identificando os que lhes resistem como inimigo.
O filósofo francês, Alain Badiou, diz no seu Elogio do Amor que “na política, a luta contra o inimigo é constitutiva da acção” e que “qualquer verdadeira política identifica o seu verdadeiro inimigo”. Teremos atingido o ponto em que os trabalhadores voltaram a ter consciência de si enquanto um corpo comum ameaçado por forças em relação às quais têm de reclamar poder?
Seria demasiado audacioso responder afirmativamente, mas há seguramente sinais um pouco por todo o mundo ocidental de que talvez o aumento extremo da desigualdade tenha começado a produzir a ideia de que se atingiu um limite e de que é preciso que os trabalhadores façam força para aumentar o seu espaço na arena política.