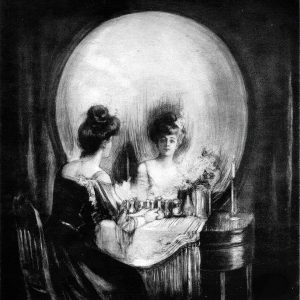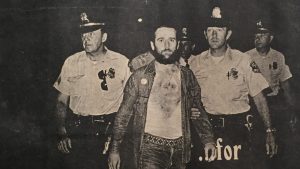Em Óbidos, no Folio de 2021, entre momentos com e sem máscara, encontrei-me com Jung Chang. Tinha sido infectada logo na segunda vaga de Covid, em 2020. “Não diga a ninguém mas nem tudo foi desagradável. Fiquei dois meses em casa, a ler, tranquilamente, e a tomar chá. Não tinha muito apetite, por causa da Covid, e emagreci bastante”, ela contava isto enquanto comia com à vontade um peixe grelhado antes de atacar um caldo verde e um prato de pataniscas. Gosto de pessoas assim. Jung Chang escreveu alguns dos mais notáveis livros que eu tinha lido sobre a história da China, além do autobiográfico Cisnes Selvagens: a história da imperatriz viúva, Ci Xi, uma das figuras mais controversas da passagem para o século XX chinês, e a biografia das três irmãs Soon, que marcaram todo o espectro político da China republicana ou revolucionária, de Chiang Kai-Shek a Mao. “E, a meio daquele mês, pensei na China e nos vários confinamentos: os da pandemia e os que ocorreram durante o tempo de Mao. E eu estava tão cruelmente confortável. Era uma injustiça.”
Tal como ela, fiquei cerca de um mês em casa, em períodos alternados de uma semana — não por ter Covid, mas por estar rodeado dele. Primeiro, por ter estado com Luís Sepúlveda, que veio a morrer um mês depois. Uma semana e meia de quarentena. Depois, uma semana de confinamento, um mês e meio depois; finalmente, outra semana caseira já não me lembro quando.
Não tive grandes pressentimentos metafísicos a propósito da pandemia. Não fui reler as bibliografias mais ou menos obrigatórias da ocasião. Lembrava-me da maior parte das coisas e o que mais me aterrorizava era o isolamento em que estavam os meus pais, a mais de quinhentos quilómetros de minha casa, e a quem telefonava todos os dias. E todos os dias a situação se agravava: a minha mãe, que já estava na casa dos oitenta, repetia frases e eu sabia que tinha entrado numa espiral, uma espécie de declive do qual nunca se sairia jamais. Era preciso, urgentemente, retirá-los daquele poço. Não conseguimos — a minha irmã e eu — senão um ano depois, quando já era demasiado tarde. Também não costumava ver os meus filhos mas mantínhamos uma rede de contactos informais, regulares e não obrigatórios. Tirando isso, ficar em casa é uma das ocupações mais agradáveis: trabalho muito mais e muito melhor uma vez que a minha profissão não exige — em situações como a da pandemia — a presença absoluta à mesma secretária todos os dias. Por isso, a partir das sete e meia de cada manhã, durante essas quatro semanas sorteadas, cumpri as minhas funções; reuni, escrevi e tomei decisões; tive receio, senti-me cómodo, muito confortável, porque já tinha deixado de acompanhar a procissão de conferências de imprensa, estimativas, projeções, estudos, reuniões de especialistas, ou as cada vez mais inúteis e dispensáveis declarações do Presidente. Até que tomei o café naquela manhã. Leonilde e Cristina eram as empregadas da cafetaria. Às oito da manhã, meia hora depois de me instalar à secretária e de verificar emails, agenda e primeiras tarefas, tomava um café e fumava um cigarro no jardim.
A imagem mais absurda que recordo foi a do rosto de Leonilde, aliás Quicas (não sei porquê), que me servia o café ao balcão da cafetaria, e a quem eu levava o jornal todos os dias, hábito que se mantém até hoje: a primeira página da edição desse dia trazia aquele apelo lancinante da directora-geral de saúde, que instava “os portugueses” a ficarem em casa. Os “portugueses”, notem bem; não Leonilde, aliás Quicas, não Cristina, que servia as sandes, não Irma, que limpava o corredor do escritório, nem Gonçalves, nem Leonel, nem José, nem Zaida. Leonilde apanhava o 750 todos os dias em Entrecampos depois de vir de Odivelas num autocarro apinhado, dado que a quantidade de carreiras tinha sido reduzida porque “os portugueses” agora ficavam em casa. José vinha de comboio, em carruagens apinhadas, na Linha da Azambuja, porque a quantidade de ligações ferroviárias tinha sido reduzida já que “os portugueses” agora ficavam em casa, e só os maluquinhos se atreviam a ir trabalhar.
***
A primeira impressão de medo veio com a surpresa, tal como estava previsto que acontecesse. Prever a surpresa não é uma grande imagem, mas foi exatamente o que se passou quando, em Abril de 2020, arrisquei uma ida a um supermercado dos arredores, entre Sintra e Cascais, às primeiras horas da manhã: um enorme painel luminoso, pendurado sobre a autoestrada, pedia-me para ficar em casa. “Fique em casa.” E ficar em casa era uma das coisas de que mais gostava de fazer. Agora, antes e no início da pandemia — e sempre. Eu tinha regressado da China no início de janeiro, a minha mulher apanhou o avião em Pequim uma semana depois, no mesmo dia em que Wuhan tinha entrado nas notícias diárias e já toda a gente sabia pronunciar o nome da cidade. Em Istambul, numa escala de duas horas, tinha lido uma notícia sobre a misteriosa gripe das aves e voltei a página porque de Wuhan a Pequim a distância era bastante. Mais tarde verifiquei que o primeiro bairro de Pequim a ser atingido pelo vírus foi precisamente o nosso bairro, Chaoyang. Nunca imaginei que os meses seguintes estariam cheios dessa ameaça e dessa garantia: “Fique em casa, um conselho da DGS.” Ao chegar ao supermercado (nunca esquecerei essa manhã), luvas, máscara, desinfetante: nada disto era um incómodo para quem tinha passado pela parte da Ásia onde ninguém com constipação ou gripe entra numa carruagem do metro sem máscara, mas era o centro de um debate ideológico em Portugal e na Europa. E, depois, nos Estados Unidos. Claro que defendi a máscara. E passeios nos parques, na praia, na rua — lugares que a certa altura foram interditados porque as pessoas deviam seguir esse conselho: “Fique em casa. Estamos em estado de emergência. O vírus ataca a qualquer hora. Fique em casa.” E nós ficávamos em casa, naturalmente. Tínhamos casa, podíamos ficar em casa. No fundo, éramos futuros leitores da Almanaque.
***
Enquanto as televisões transmitiam apelos lancinantes para “os portugueses” ficarem em casa, três milhões de portugueses nunca colocaram essa hipótese.
Muitos meses depois, amigos médicos e enfermeiros acharam ridículos os aplausos que receberam de cidadãos anónimos e que contrastavam com as lengalengas pacóvias acerca das máscaras, de andarmos de costas com costas nos elevadores, de nos cumprimentarmos com os cotovelos ou com o punho fechado, ou de nos afastarmos dois metros de qualquer transeunte, se andássemos na rua, em bairros desertos ou ruas praticamente vazias. Aliás, não devíamos andar pela rua. Estávamos em Marte.
Mas essas novas classes emergentes e protegidas pela lei, que não saíam de casa nem se afastavam da internet, eram o exemplo de cidadania num país que tinha descoberto o prazer da emergência (e do “retorno do trágico”) e da calamidade, do isolamento e da autoridade sanitária, das conferências de imprensa e da autoridade policial, das listas de mortos e de internamentos, das comparações entre medidas de confinamento pela Europa fora, das filas para os supermercados, do estado de emergência, da piedade amorosa pelas profissões ministeriais – nenhuma delas criticáveis. O medo tinha acabado de instalar-se em março, abril, maio. Todos os dias, ao meio-dia, ninguém estava a salvo do medo – nem os que, dois anos depois, ensaiam a bravata da rebeldia e da defesa da liberdade diante da ameaça da morte. Seja como for, o medo é uma força fácil de explorar, sitiando um país inteiro. O inimigo invisível atacava de todos os lados e exigia o compromisso histórico de todas as classes, profissões, partidos, corporações, lexicógrafos (porque há uma nova linguagem a inventar para designar as formas do medo e as mutações da ameaça), relâmpagos sobre os rios, organizações sindicais e patronais, confissões religiosas, ciências e cientistas, maquinistas de comboios, urbanistas, empresários compungidos, gestores e gestores de compras de supermercados, artistas, escritores, técnicos de informática sobretudo (porque a nossa vida decorrerá agora num plano digital, à distância de seja o que for), poetas de serviço aos telejornais, porteiros, “colaboradores” da Uber e da Glovo, condutores de autocarros, estrategas de direito internacional, analistas de risco, biólogos, pessimistas profissionais, geriatras, nefrologistas, cozinheiras, matemáticos e historiadores que evoquem a Gripe Espanhola e a Peste Negra, literatos que relêem A Peste, de Camus, o Ensaio sobre a Cegueira, ou as páginas de Stevenson sobre outra peste, filósofos, publicitários, personal trainers, carteiros, empregados de mesa, empregadas de balcão, comentadores desportivos, especialistas em ervas aromáticas, humoristas, professores de vilas recônditas, barbeiros, jardineiros, pessoas que recolhem o lixo a meio da noite, funcionários de bombas de gasolina, estudantes cuja hormonas explodem a uma razão ainda desconhecida, moralistas e teólogos, primeiros-ministros, presidentes da república, atores empregados e desempregados, manobradores de gruas, colunistas que sabem quem é o Bei de Tunes, criadores de startups, compositores de Tony Carreira, economistas, não podiam faltar os economistas, de braço dado com especialistas em estatística, a ciência das ciências. O problema é que nem toda a gente podia ficar em casa. E aqueles que não puderam ficar em casa foram sendo, paulatinamente, esmagados por quase todos os outros. Manuel Vázquez Montalbán estabelecera essa distinção num ensaio sobre a natureza dos escribas do faraó, que nunca tiveram de transportar as pedras para construir as pirâmides, e ficavam sentados a anotar a quantidade de pedras transportadas para a base ou o topo de cada pirâmide.
No entanto, passados dois anos, ninguém aplaudiu as caixas dos supermercados, os agricultores que continuavam a abastecer as burguesias urbanas de rúcula e legumes frescos, os funcionários das câmaras e das empresas que recolhiam o lixo doméstico (que tinha aumentado), os solitários que mantinham abertas as bombas de gasolina e os portões de desembarque de mercadorias nos supermercados, as pequenas fábricas que não podiam parar, as grandes fábricas que continuavam a produzir máscaras e embalagens de alumínio, as pessoas invisíveis que limpavam os corredores dos hospitais e as pracetas dos bairros de Alvalade e da Foz do Douro, observadas por pessoas visíveis que as observavam das janelas por onde o vírus não entrava e que assistiam pela televisão à trasfega, noturna e dramática, de velhos e acamados em lares de Vila Real ou Torres Vedras – e tudo decorria com normalidade até que, à porta de um desses lares, onde tinham descoberto vinte e cinco infectados, um repórter de televisão, à frente das câmaras, pergunta ao edil, um sujeito preocupado e ligeiramente careca, “e então essa gente vai continuar aqui a infectar os outros, ou vai ser retirada para outro lugar?”.
Recordo esse momento como uma espécie de explosão pessoal, porque o meu tio-avô vivera naquele lar os derradeiros anos da sua vida e fora poupado àqueles dias de tempestade, como parte “dessa gente”. O presidente da câmara olhou para o repórter e respondeu: “Faremos o que pudermos.” Entre mortos e feridos, alguém há de escapar. Ninguém sabia o que iria fazer. Quando chegaram as vacinas, já não sei se se recordam, os mais velhos foram preteridos em favor de corporações mais sonoras.
***
Nunca, desde a instauração do regime democrático, tantas pessoas tinham sido excluídas do convívio social, das normas de cidadania, da proteção sanitária, dos apelos dos telejornais. Claro que essas pessoas foram fundamentais para que o país funcionasse, resistisse — e nós, a “burguesia do teletrabalho”, nos alimentássemos, observássemos os sinais da hecatombe pela televisão, enquanto folheávamos páginas do smartphone. Um aplauso, pelo menos, para os que desobedeceram ao imperativo categórico de ficar em casa, custasse o que custasse, e que tanto nos alegrou a todos os que lemos a Almanaque, discutimos o sistema eleitoral e vimos os que faziam humor pelo Instagram, faziam pão caseiro pelo Instagram, cantavam pelo Instagram, publicavam fotografias no Instagram, tinham o seu salário e os seus canais de televisão, as suas bibliotecas e os seus animais de estimação, e eram elogiados pelas pessoas da televisão, que perseguiam pelas ruas os ex-cidadãos, agora seres recalcitrantes, desajustados, desobedientes, que desafiavam o vírus em nome do salário, que tinham de atravessar os limites do concelho para irem trabalhar, eram sujeitos a controle policial e tratados como “intocáveis” pelas autoridades.
Nada como governar em estado de calamidade, empunhando a bandeira da hipocondria e da exceção, porque assim se salvou a humanidade dos ataques traiçoeiros do vírus. Quando, dois anos depois, se verifica que parte dos apoios estatais às empresas e aos recalcitrantes não passou de propaganda, ninguém quer desenterrar o machado de guerra. A verdade é que ninguém sabia como as coisas iam ocorrer e decorrer. Ninguém estava preparado para a ameaça do vírus. Mas é justo reconhecer a mais gigantesca operação de fixação e separação de classes em Portugal, no nosso tempo, alimentada pelas redes sociais e pela imprensa, que expunham as pessoas que eram invisíveis e continuaram a ser invisíveis, apontadas a dedo como destituídas de cidadania por não cumprirem o objetivo nacional de “ficar em casa” — uns, para se escaparem até um restaurante clandestino ou um bordel (como na Galiza); a maioria, para buscar salário, manter o trabalho, seguir a vida de todos os dias atravessando as trincheiras. Para eles nunca houve aplauso, talvez porque o seu voto seja mais manipulável, ou porque sejam mais facilmente enquadrados noutros grupos eleitorais e noutras classes que já têm representantes nas televisões. Há muito tempo que uma visão do país não se tinha sobreposto de forma tão poderosa à situação real do país. Passados dois anos lembro os artistas, intelectuais e escritores, além dos jornalistas, dos funâmbulos que foram tão generosos, todos a obedecerem ao princípio usado na época, “fique em casa”, como se isso significasse “proteja-se”, enquanto as autoridades fechavam estradas florestais, jardins ou praias e toda a discussão sobre a atividade económica parecia reduzida à abertura ou fecho de restaurantes e pastelarias. Naqueles dias — quando todos os grandes anúncios televisivos tinham o mesmo tom de voz melancólico, tristonho, suave, nostálgico, poético, solene, adolescente, mostrando como a pandemia ia mudar a nossa maneira de ser e íamos aprender a “viver em casa”, como seres arregimentados pela salvação num convento de onde se apreciava a inclemência da peste —, uma parte dos portugueses foi abandonada à sua sorte e, de forma bizarra, colocada fora da lei. E a sua voz foi ainda mais silenciada.