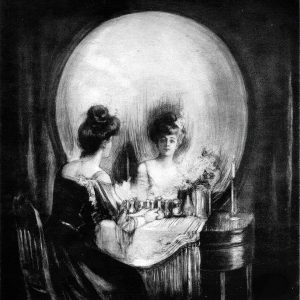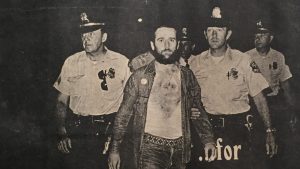O Planeta Como Planeta
Não foi há muito que, no contexto de um colóquio onde se encontravam pessoas dedicadas a pensar o teatro ou as artes performativas ou as artes vivas ou essa coisa a que se dá nomes vários, mas que tantas vezes fala do mesmo tipo de objetos, Richard Schechner, uma figura reconhecida por essas mesmas pessoas, decidiu, na intervenção de abertura, apelar a que se suspendesse a guerra na Ucrânia, todas as guerras, aliás, para que se travasse, com toda a disponibilidade, uma outra batalha: a de salvar o planeta do desastre climático. Será escusado expor os argumentos. A justiça da proposta é evidente. O que poderá não ser evidente é o que pretende tal intervenção de abertura num colóquio que se apresentava com o título “Mente teatral”.
Para quem não esteja tão familiarizado quanto eu relativamente a esta área de estudo, e sem querer maçar em demasia, tem-se por hábito identificar uma viragem, no final do século passado, que expandiu os estudos de teatro e que levou algumas universidades a identificar o campo como “estudos de performance”. Richard Schechner é uma das figuras a quem é atribuída a responsabilidade dessa viragem. Num dos seus livros, aquele que mais se assemelha a um manual para estudantes, inclui como objetos de estudo rituais vários e assuntos como turismo, as olimpíadas, julgamentos, terrorismo, etc., aproveitando a palavra “performance” e a sua semântica para justificar a inclusão, seguindo o princípio de que “tudo pode ser estudado ‘como’ performance”.
Estudar alguma coisa como outra coisa será pois o que justifica a inclusão do assunto guerra e alterações climáticas no referido colóquio. Estudar a guerra como teatro, estudar as alterações climáticas como teatro. E é por isso que Schechner, nesse discurso, recorre à metáfora teatral de Clausewitz – “teatro de guerra” – e suas declinações. Por isso, também sugere que, já depois de resolvido o problema climático, e porque a espécie humana, segundo Schechner, nunca deixará de lutar por “território, hierarquia, recursos físicos e o controlo de ‘valores’”, se retome uma guerra “virtual”, que siga a “estética-política brechtiana” que “reconhece todo o ser humano como um intérprete de uma peça”: “um ‘teatro de guerra’ genuíno e um espetáculo global”. A guerra como teatro.
“Como” não é tanto comparação quanto introdução para a metáfora, modo de incluir mas também de perceber. Perceber uma coisa como outra torna essa primeira coisa familiar e presente – Derrida, o filósofo francês, chamar-lhe-ia a “metafísica da presença”. A esperança de Schechner seria pois a de contribuir para que a sua proposta fosse mais perceptível para nós, seus ouvintes, gente habituada a ler coisas sobre teatro e para quem todo o mundo é palco, como diria Shakespeare. Em Roma sê romano, no Teatro sê teatral.
Este movimento requer, porém, um pressuposto: o de que todas as que ali estamos temos a mesma ideia do que é Roma: Roma é habitada por romanos, tal como o Teatro é habitado por intérpretes e palco, por Shakespeare, Brecht e Artaud, por público e ribalta. Este é o mundo aborrecido de quem sabe onde está ou para onde vai. Não há desconhecido. Nada é cósmico ou infinito. E eu bocejo e adormeço na pasmaceira de um teatro que se reconhece.
A referida expansão, que se atribui a esta possibilidade de tudo poder ser visto como teatro ou performance, não passa de mero número de ilusionismo ou, na linguagem do auditório de Schechner, um golpe de teatro: tudo pode ser visto como teatro, mas cada coisa que é vista como teatro é encolhida e delimitada para ser contida pela existência metafórica e familiar que a palavra teatro autoriza. Guerra como teatro passa a uma guerra confinada a um palco com pano de boca, narrativa, adereços, protagonista e público a observar e muito Shakespeare e Artaud e Brecht. A expansão não é mais do que uma cosmética que acrescenta mais objetos ao campo do teatro. Não é o teatro que muda, é a guerra. E por isso continuamos a assistir ao mesmo espetáculo que nos é apresentado como novo.
As reivindicações mais recentes de algumas ativistas climáticas portuguesas foram atacadas por expandirem em demasia as suas preocupações. Foi dito que entre justiça climática e preocupações com a comida da cantina ou que entre problemas de assédio sexual e poupança de energia não há relação. Se fôssemos Schechner, diríamos que essa falta de relação pode ser facilmente ultrapassada. Basta que víssemos uma coisa como outra coisa, ou seja, que a víssemos como alterações climáticas. O esforço que, para estas pessoas, supostamente se exigiria então na leitura das reivindicações seria o de entender abusos sexuais como ações anti-ecológicas na medida em que contrariam uma ideia de justiça climática que a identifica como respeito pelo outro ou como relações simbióticas equilibradas. Já quem não quiser acompanhar esse esforço, facilmente afirma que “isso não é ecologia” como quem diz: “isso não é teatro”. Ambas as posições reforçam, porém, a estabilidade da palavra “ecologia”, não oferecendo qualquer contribuição para a sua expansão.
O exemplo torna evidente, pelo menos para mim, que olhar uma coisa como outra coisa alimenta muitas vezes um conhecimento acabado ou morto, porque quem assim olha e pensa sabe já o que é o teatro, o clima ou as alterações a que estamos sujeitos. E é nas diferenças de opiniões entre quem acha uma ou outra coisa que se discute o assunto: cabe ou não determinado assunto no entendimento que tenho do que seja o outro assunto? Ou seja, pode ou não determinado assunto ser olhado (ou protestado) como “alterações climáticas”. E eu bocejo e adormeço na pasmaceira de uma recusa poética e cósmica, como bocejo num teatro que sabe o que é. É uma situação semelhante à das pessoas que consideram que quanto mais nos conhecem mais nos conhecem, enjeitando a possibilidade de que o convívio e a familiaridade são os lugares ideais para encontrar a estranheza e conviver com ela. Pedem-me que habite um planeta como planeta e eu preferia não habitar uma metáfora.