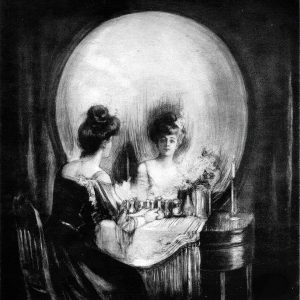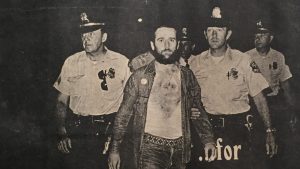Eu tinha 50 anos quando chegaram os telemóveis. Demasiado tarde. É certo, além de telecomunicar, eles vinham com uma fantástica rede de informações e passei a ir menos ao arquivo do jornal para saber como escrever: Khrushchev ou Khrushchov, Yeltsin ou Iéltsin? Vantagem que não era grande coisa porque naquela altura o senhor da Rússia passou a chamar-se Putin, perpétuo de cargo e nome fácil de memorizar. É certo também, sendo aparelho sem fio, que deixei de tropeçar. Mas foi pouco o ganho porque mantive o hábito de telefonar sentado.
Enfim, o telemóvel merece-me alguns elogios, logo que rematados de um ou outro senão. O que ele poderia ter-me trazido de bom era o seu tamanho maneirinho, ser discreto e um todo-o-terreno acoplado de máquina fotográfica. Mas mesmo essas funções utilíssimas e inspiradoras só as conheci quando eu já não tinha as ganas que na mocidade nos moldam os hábitos. Chegou-me tarde, repito.
Qualquer garoto de hoje, sujeito a um susto, saca logo do telemóvel para postar na Internet. Já eu continuo com os meus genes implantados em 1755: perante um terramoto, fujo. Penso mais depressa em ir para Monsanto, como colina sólida, do que dar serviço à antena de telecomunicações que lá está erguida. Resumindo, até em circunstâncias mais tremidas o que o telemóvel me deu foi pouco.
Apesar de tudo, a nossa convivência levou-me ao reconhecimento das potencialidades dele. E isso foi o pior de tudo. Transformou-me num rei Arthur que olha para o seu I-Phone 14 Plus, perdão, para a sua Guinevere, com a angústia de eu já não ser o Lancelote. Conheci-a, circa 2000, ainda ela era uma Motorola, gordinha, pesadona mesmo, e desde aí a Guinevere foi-se transformando numa lady esguia e etérea, cada vez mais maneirinha e melhor de imagem. Já eu tive o percurso inverso, com gota e uma perda que se agrava, a minha memória.
Como todos os desapossados pelo tempo, a minha fuga foi para trás. Reparei que os Lancelotes modernos cavalgam o teclado com todo os dedos e desperdiçam-se em torneios de selfies, não servindo Guinevere como ela merecia. A revelação incitou-me a ambicionar ir à raiz: ah, se eu tivesse um telemóvel na minha infância!
Chego, enfim, ao assunto desta crónica que também pode ser lida como um ensaio tecnológico. Pode o telemóvel com câmara fotográfica, inventado no virar do milénio, voltar à década de 1950, caçar dados de mim, miúdo, e regressar ao futuro que sou eu hoje?
Prometo não agir por cupidez e, na ida, não aposto nas lotarias do Natal. Diz o meu telemóvel, em busca rápida de cinco segundos: em Espanha, 1959, o bilhete 36600 do El Gordo deu um prémio de 240 milhões de pesetas. Muito menos, não cairei também na tentação de levar uma mãe madeirense ao notário, em 1995, para que, a troco de lhe pagar os óculos por toda a vida, ela me garanta 10 por cento do que o filho, um miúdo teimoso, venha a ganhar. Não, nada de segunda intenções.
Eu partia para o passado exclusivamente para fazer as fotos que não fiz. Até à invenção do telemóvel, tirando retratos de família com uma festa por detrás, não tinha havido quase relacionamento meu com a fotografia. Nada que me incomodasse, até brincava com as não fotos da minha vida, imputando as culpas à minha mãe.
Lembro-me de o meu pai chegar a casa com um contrabandista, nessa manhã encontrado nos cais de Luanda. Década de 1950, eu tinha cinco, seis anos. A minha memória empresta ao homem uma camisola de marujo bretão às riscas horizontais, brancas e de azul-marinho, uma âncora bordada no peito, talvez um boné de capitão Haddock. Demasiados clichés, eu sei. Mas é exatamente isso que me aflige por não ter tido, então, um telemóvel para atestar o meu passado. Agora prantava a foto nas vossas dúvidas e seguia em frente.
Que ele trazia um saco daqueles com que os marujos descem os portalós dos navios, sobre isso não vos admito nem um meio mas. Sem o saco não haveria história, e dentro dele o homem tirou uma Kodak. Daqueles caixotes sólidos, uma Kodak Brownie Reflex, se querem saber tudo. Estendeu-nos um folheto publicitário, de onde o meu pai leu alto uma frase abonatória. Já a minha mãe fez um trejeito desapontado.
A vinda do marinheiro lá a casa fora motivada por um incidente anterior. Dessa vez, o meu pai tinha visitado um barco americano, e voltou com embrulhos. Ofereceu à minha mãe um vestido plissado, azul às bolinhas amarelas, o que causou algum impacto positivo. O meu pai até invocou a Ava Gardner, de um filme que tinham visto. O problema é que ele, de seguida, mostrou outra prenda: um vestido plissado, amarelo, às bolinhas azuis. A minha mãe disse: “Oh, Álvaro…” Aquela generosidade frustrada virou anedota na família durante anos.
Daí o meu pai desistir de prendas-surpresa e ter trazido o contrabandista à nossa casa para a minha mãe decidir. O esgar dela com a Kodak caixote levou o meu pai a traduzir em estrangeiro – o dedo indicador volteando e a subir aos céus – ao mesmo tempo que dizia “upa! upa!” O marinheiro, que também falava esperanto, percebeu que ali não se regateava o preço. Então, do saco retirou uma Kodak de fole. Abriu-lhe e fechou o diafragma, fez click com obturador, mostrou a moldura metálica do visor (“aço sueco”) e explicou como a objetiva aumentava e encolhia. Um todo que cabia em elegante bolsa de couro.
Eu percebi logo quem era o derrotado da manhã. O folheto da Kodak anterior, a da forma em caixote, tinha-me dado esperanças alucinadas: “Carregue no botão e nós fazemos o resto”. A máquina simples, ideal para o tosco de tecnologia que eu já era, regressou ao saco do marinheiro e ao barco. A outra Kodak, elegante, foi viver ao lado de um pequeno binóculo de teatro, em madrepérola, no fundo do guarda-vestidos da minha mãe, de onde passou a sair só nos dias de festa. O contraste entre o tom baço do fole e o aço inoxidável, pontuado por letras gravadas a negro, fez do conjunto um objeto sagrado, intocável. A falta de prática à partida cerceou para todo o sempre a minha relação com a mecânica e a arte fotográfica.
Nunca ousei pedir à minha mãe: “Posso…?” Nunca fotografei a corça que houve numa cerca, nem um jacaré que passou pelo tanque. E ainda hoje não sei como saber, com memória de ver, como era alta a mulembeira do meu quintal. Isso foram perdas que lamentei até ser cinquentão. As não fotos da minha vida, por culpa da minha mãe. Mais tarde, eu dizia-lhe isso muitas vezes, para tudo acabar, como sabíamos que a brincadeira acabava, entre risos meus e um beijo dela. Falávamos então de perdas vãs, suportáveis, para exorcizar a perda maior, a da nossa cidade.
Durante anos, as fotos que não fiz tiveram o benefício da boa desculpa: não tive a Kodak caixote, simples e prática, logo… Mas tivesse eu tido acesso à outra, a Kodak de fole, o efeito seria o mesmo. As fotos de que falo, anseio e só sonho, não são as de pose, paradinhas, para serem conservadas no formol dos álbuns. Eu queria máquinas caçadoras de momentos e disso não havia no saco do marinheiro. Nem a de caixote, pesada como um elefante na sala, nem a de fole, complicada demais, nenhuma máquina fotográfica servia para a minha coleção de relâmpagos de memórias que mais tarde eu soube precisar desesperadamente.
A brincadeirinha com a culpa da minha mãe, afinal, só me ajudou a não me dar conta do que eu tinha perdido.
Tudo mudou, pois, quando apareceu o telemóvel e me fez saber da dimensão da tragédia. Tudo mudou, vírgula, o que mudou foi nada. O mudar foi ao nível do saber; para os factos, o mal já era irremediável. Daí o assunto desta crónica: que pena os telemóveis me terem chegado atrasados. Não falo da falta de uma foto do meu jacaré no tanque do quintal. Aliás, há uma assim, feita pela Kodak de fole, empunhada por alguém adulto. O bicho posa na letargia eterna com que nos parecem enganar os jacarés. Vale o mesmo que as do álbum de qualquer garoto meu contemporâneo, em ida ao zoo de Lisboa, evocando um dia vago.
Vago? E daí não sei… Se alguém tivesse fotografado a nuca do lisboetazinho, inclinada, ora à esquerda, ora à direita, e com, ao fundo, aquele urso polar maluquinho que nos olhava de pé, pendulando em Sete Rios… O Lobo Antunes tem um parágrafo magnífico sobre o senhor santomense da sua infância, elegante de fato e gravata, que volteava na pista de Sete Rios, ensinando as meninas a andar de patins. Mas ele é um grande escritor, não precisou de foto para se inspirar. Já o menino do urso, pousasse ele os olhos nas fotos da sua dança mimética com o infeliz urso, sentiria hoje uma explosão de magma na nuca para nós inexpressiva.
Claro que eu falo de mim e do que me falta. Quando o meu pai nos trouxe o jacaré, este vinha amarrado na carroceria aberta do camião Bedford. Era bebé, mas foi preciso três pessoas para o descarregar. Como espectador eu estava na linha da frente, embora com uma mão agarrada às saias de alguém lá de casa. Num repente, a cauda do jacaré deu um golpe, atrapalhando o meu pai, que segurava a corda da boca. Foi um breve momento, logo controlado, sem consequências, mas por segundos deixei de ver a mão do meu pai…
Não há foto, a haver seria uma dessas, impossível para as Kodak e impossível de todo porque o camião regressava do mato já ao lusco-fusco. Mas na galeria das minhas não fotos, na minha fotobiografia de que não há documento com que a organizar, eu tenho a certeza de que haveria uma não foto, assim: “Esta!”. É uma imagem na cabina do camião, a explosão de luz vinda de fora ensombra o volante, onde as mãos do meu pai pousam. Ou talvez só uma, a outra engrenando a manete da caixa de velocidades.
O meu pai travava o Bedford e sem sairmos deixava o motor a ronronar para não espantar o que, lá fora, ele me queria apontar: olha, um pássaro a ser hipnotizado por uma cobra! O camião voltava a arrancar e o meu pai cantava-me uma lengalenga, absorto nos saltos da picada: “Mora um homem debaixo da ponte/ Vende garrafas e garrafões…” Sem me dar conta do anacronismo, eu tirava do bolso o telemóvel que ainda não podia existir. E fotografava. Como preciso hoje dessa fotografia, para confirmar se é verdade que as mãos dele eram tão fortes e belas como as recordo. Saber se a unha do polegar vai roçar com a do indicador, em gesto distraído, como eu agora também faço…
O que me falta, são essas fotos nervosas – erradas de luz, enquadradas mal, não importa –, flashes para me iluminar a memória. Pedaços de mim. Com as Kodak eu não as teria conseguido, porque elas roubavam a cena e a desvirtuavam, ou porque elas exigiam uma arte que eu não tinha. Porque as máquinas eram aborrecidas e incómodas, difíceis de carregar e caras, obrigando a rolos e revelações. Essas fotos faltam-me, tão-só, razão definitiva, porque eu não podia ter tido, então, telemóvel.
Ora, “o que eu queria, Mário Alberto…”, como diz ao marido, num sketch da Porta dos Fundos, aquela senhora carente de foda, o que eu queria era tudo, e desmesurado. O que a acicatou, a ela, que até nem sabia bem o que ela queria, foi o desprezo dele, num jantar burguês. O que eu queria também era tudo, ter tido um milagre maneirinho, discreto e todo-o-terreno capaz de caçar as minhas memórias. Uma impossibilidade porque o telemóvel me chegou tarde e, a partir daí, vivo a revelação dolorosa de um desconseguimemto (é uma palavra comum, na minha terra).
Do muro do cinema Colonial, no meu bairro luandense, não precisei nem preciso do testemunho do telemóvel. Não o esqueci, caiado de ocre, arredondado no cimo, onde durante anos me encavalitei para comprar doces às quitandeiras, no intervalo dos filmes. Depois, voltávamos para a plateia.
Esta, do ponto de vista luta de classes era dicotómica. De um lado, nas cadeiras de madeira, brancos, negros e mestiços com sapato; e a três metros do ecrã os pés descalços, só de negros, nos bancos corridos de cimento. Separados. Já a geoestratégia cultural era coesa, juntava os dois grupos, os de sapato e a patuleia, todos nós, aliados do cowboy. A diversidade tinha nuances como os cinzentos da vida.
Lembro-me de que no cinema do meu bairro – como nas litanias de Georges Perec, recitando saberes comuns de uma época, sempre começadas por “Lembro-me…” – quando um índio sorrateiro e o seu tomahawk traiçoeiro se aproximavam, às vezes surgia um grito da plateia. Vinha da zona dos bancos de cimento: “Rapaz, cuidado, no trás!” Nunca o cowboy, Gene Autry ou Roy Rogers, deixou de ouvir o aviso do meu modesto conterrâneo. O nosso herói sacava do revólver e liquidava o comanche.
Gosto de reconhecer em Perec as recordações comuns: “Lembro-me de que o Khrushchov bateu com o sapato na tribuna da ONU”, escreveu ele. Eu li o mesmo, a 1 de setembro de 1960, num Diário de Luanda, então muito preocupado com as Assembleias-Gerais nas Nações Unidas, a guerra colonial ia começar nos meses seguintes.
Outra pílula poética e fotográfica de Perec: “Lembro-me de Bourvil, num sketch em que ele repetia numa pseudoconferência: álcool, não, água ferruginosa, sim”. Nesta, faço gala de a saber ler com a voz arrastada de bêbado, porque cinco anos de exílio (1969-1974) me tinham feito conhecer a cultura da França popular. Fazem bem as histórias partilhadas, dão conta da função agregadora das palavras, saúdam memórias comuns.
Comovi-me quando recentemente li em José Luandino Vieira, numa nota datada pelo seu punho “Domingo, 11, [-1-1970]”, no seu livro Papéis da Prisão: “Culunias é o nome do cinema, rapaji era o herói, o cowboy”. Encafuado no campo de concentração do Tarrafal, ele lembrava-se do aviso, no cinema do meu bairro, cerca de 15 anos antes. Gente confiável já me jurou que um aviso semelhante era lançado com frequência no Salão Lisboa, conhecido como Piolho, cinema popular lisboeta onde passavam filmes de cowboys.
Já antes, em 1931, o jornalista Guedes Amorim publicara na revista Girassol, uma reportagem dedicada aos espectadores do Salão Lisboa, quem eram e o que vestiam: “Fatos de ganga, bonés, mulheres de xaile, engraxadores, cortesãs, carroceiros…” A minha atenção pela relação entre os com sapatos e a patuleia, a cadeira e o banco corrido de cimento no cinema Colonial, equivale ao interesse do jornalista português Guedes Amorim pelas gentes do Salão Lisboa: testemunhar um tempo.
A palavra, conversada ou publicada em jornais, livros e cartas, é ótima para guardar memórias. O telemóvel dá-lhe bom uso, e estou-lhe muito grato nessa matéria. A alguns dos saberes que exibo nesta crónica cheguei a eles, ou pelo menos à sua confirmação, graças ao telemóvel. Mas trocava-os, a todos os saberes, pelo tal milagre da imagem.
Aquele muro onde me pendurava para as quitandeiras dava para a rua onde nasci. Quando nasci, chamava-se rua Vereador Prazeres e chama-se hoje rua Vereador Prazeres. À mais bela avenida da cidade, marginando a baía, chamavam-lhe Paulo Dias de Novais, homenagem a quem fundou Luanda em 1576, vai fazer 450 anos daqui a pouco. Esse neto de Bartolomeu Dias hoje nem beco tem. O vereador da minha rua nunca eu soube quem foi, mas sobrevive na toponímia caluanda. É uma alegoria à minha caça de coincidências, gosto delas quando elas dizem fundo.
Quando nasci, a minha rua era de terra batida. Às quartas-feiras, dois cuanhamas descalços, pastores do deserto, a mil quilómetros a sul, altos e com esguios cajados, levavam a manada de bois até ao matadouro, na Baixa de Luanda. Também não tenho foto e lamento muito.
Entre a poeira da terra vermelha, o vulto de orgulhosos cuanhamas de tanga – cowboys genuínos, embora sem botas nem revólver – a conduzir bois magros, ladeando o muro do cinema do faroeste… É de uma ironia fulgurante. Parágrafos atrás, deixei o meu testemunho sobre o grito insólito e vezeiro no Cine Colonial. As minhas palavras parecem verdadeiras. E são. Mas…
Com foto (daquelas do telemóvel que datam o momento), não restariam dúvidas. Eu até podia sugerir que, pelo menos, às vezes, eram os cuanhamas a avisar o colega cowboy: “Cuidado, rapaji!”. Bastava a foto ser feita na esquina da Vereador Prazeres com a rua da Missão de São Paulo, onde se colava o cartaz dos filmes. Eu só precisava de um filme de cowboys à quarta-feira. E um telemóvel a meados de 1950.
Na minha infância, os cortejos do Carnaval também passavam pela minha rua. Partiam dos musseques – na minha certidão de batismo na missão dos capuchinhos, fiquei cunhado “natural do Musseque de São Paulo”, mas pouco depois já era bairro de São Paulo.
Nas vésperas da luta pela independência, os cortejos carnavalescos, festivos de dança e música, eram óbvia invasão da cidade do asfalto pelos musseques. Tão óbvia que o último cortejo do Carnaval de Luanda foi em 1960. A guerra começou em fevereiro de 61.
O meu pai talvez me tenha falado do velho Sambo pela primeira vez quando o camião atravessava o Caxito, vila a poucos quilómetros de Luanda. Luís Gomes Sambo era um sábio de Cabinda, ervanário e músico. Passou a vida (1874-1946) a vender chás que salvavam e a fazer pautas para a sua banda de sopro. Ele tocava no coreto do Caxito e desfilava em Luanda. Nos dias mais solenes, usava fato de labita e chapéu alto tão negros quanto ele, e uma camisa de smoking tão alva como sua carapinha.
Autoridades coloniais, como o capitão Henrique Galvão, citaram-no. E para os angolanos, tal como o lema da unidade nacional, é um símbolo “de Cabinda ao Cunene”. Já na década de 1960, uma escola oficial, em Benguela, tinha o seu nome, homenagem rara a um negro. Um recente ministro da Saúde angolano e representante da Organização Mundial da Saúde para África não escapa à medalha que mais o honra: “Ele é trineto do velho Sambo”, diz o povo.
Os bairros negros de Luanda traziam a música na pele e a ordem e contenção dela nos ensinamentos do velho Sambo. No Carnaval sobressaía, claro, o pé para a dança, mas o domínio dos instrumentos remetia para as festas de quintal, treino de muitos fins-de-semana para o cortejo do ano, o Carnaval.
Na segunda metade da década de 1950, eu e uma prima estávamos na multidão, na Vereador Prazeres, à espera. Do musseque Sambizanga já soavam os tambores e apitos, e em breve chegariam os recos-recos, chamados dicanza entre os luandenses, talvez até cornetas e clarinetes modestos, apesar de o velho Sambo já ter morrido. Não, nunca o vi de chapéu alto, nunca o vi, nem naquele Carnaval que desfilava com ensinamentos e pautas dele.
André, um alfaiate negro, pequenino e gentil, de Catete, conterrâneo da Dona Maria, avó mestiça da minha prima, não tinha muito em conta o que aí vinha. No cortejo do Sambizanga, a coreografia era a kazukuta, muito sincopada, mas dança mais pobre, própria de um musseque, disse-nos ele, com “muito preto do mato”.
“O cortejo da ilha é que é, vale a pena, a dança da varina tem chita, seda…”, continuou André, numa lição sobre a história misturada da nossa cidade. Nós estávamos à frente da Padaria Lafonense, de nome que eu não sabia a que terra se referia. A 20 metros era a esplanada Majestic, onde, pouco anos depois, tocaria o N’gola Ritmos – e, no dia seguinte, seria preso o fundador do grupo, Liceu Vieira Dias, mestiço casado com Natércia, uma branca do Bié. E 40 metros além, ficava o Bar América, frequentado pelo meu pai. Pouco mais de uma dúzia de anos depois, ele entrou no bar, fez-se um silêncio e ele disse: “O primeiro que disser mal do meu filho, leva com uma cadeira nos cornos.” Eu tinha acabado de desertar do exército colonial.
Enfim, algures nos anos 50, vindo do musseque e com a sua mímica fantasiosa de conquistar a cidade, entrou na minha rua o cortejo do Sambizanga. Gostei da música, do ritmo das dicanzas, dos passos da kazukuta. E confirmei o André (entretanto, um pormenor, tendo boa memória não me lembro de o ter chamado sr. André, apesar de ele já ser homem maduro): havia muita gente do mato.
De repente, fiquei vidrado num personagem do cortejo, que vinha compassadamente na minha direção. Tinha pés nus e guizos nos tornozelos, avançava com as pernas abertas e fletidas, vinha de braços erguidos e numa mão erguia um bastão enrolado por penas. Os guizos e um apito de lata sincopavam o seu avanço. Trrriiii… Triiiiii… Ele era grande e o suor escorria. Reparei que a minha prima desapareceu.
Trrriiii… Triiiiii… A distância encurtava, apesar dos passos lentos dele. Uma só vez desviei o olhar, através dele, para confirmar que o muro do meu cinema lá continuava. Pus as mãos nos bolsos dos calções, como se isso me fincasse à terra. Hoje sei que era isso exatamente o que eu fazia, fincar-me à minha terra.
Dei-me conta, pelo som de fundo dos guizos, que o apito espaçava. Triiii… O apito calou-se. E os guizos também. Tão de cócoras estava o homem que os nossos olhos se defrontavam.
Vi que os olhos dele sorriram ao mesmo tempo que senti dois toques amigos no ombro. Do bastão? Da outra mão?… Já o homem partia aos pinotes atrás do seu cortejo.
E era aqui que eu queria chegar. Tivesse eu naquela tarde um telemóvel, tinha a prova de que às vezes preciso para saber. O quê, eu sei do que se trata. Mas às vezes preciso de rever para crer.