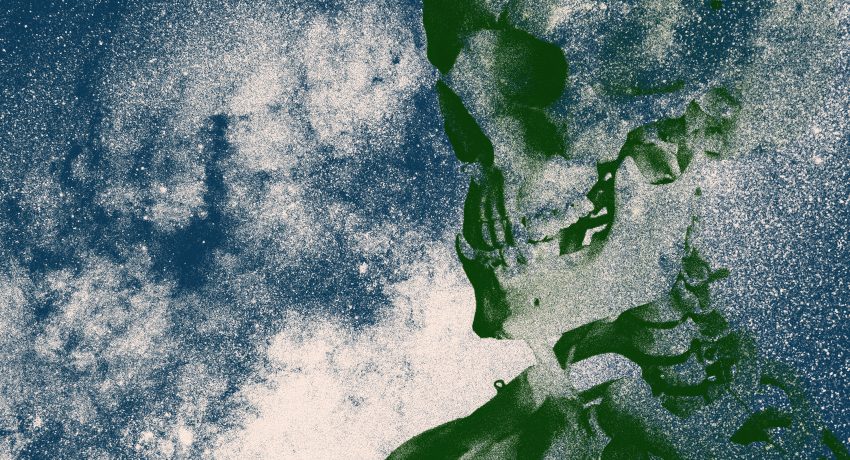Alistou-se no exército aos dezasseis anos. Tocou em bandas militares e saiu cinco anos depois. Foi para Los Angeles e conheceu Charlie Parker e Stan Getz, com quem tocou. Isto não é um texto sobre jazz, é um texto sobre um crime.
Stolen Hours, Horas Roubadas (1963), é o título de um filme menor. É a história de uma beta a quem é diagnosticado um tumor cerebral com o prognóstico de apenas um ano de vida; depois envolve-se com o cirurgião (ou com um amigo dele, já não recordo bem) que a opera. A coisa corre mal e ela acaba por resolver aproveitar os dias (as horas) que supostamente lhe restam. O filme tem um caneco: o Chet Baker aparece a tocar.
Trabalhei nas intoxicações durante muitos anos. Na primeira UD (unidade de desintoxicação) em Portugal e depois no ensino e na investigação, sobretudo na história e na geopolítica. Ainda sei pouco, mas isto sei: é um erro colossal a política de drogas, mas existem razões que o explicam.
Aristóteles não conhecia a dopamina nem via mesolímbica nem as drogas modernas, mas não precisava:
“De sorte que todos os prazeres ou são presentes na sensação ou passados na memória ou futuros na esperança; pois sentimos o presente, lembramos o passado e esperamos o futuro” (Retórica, Livro I, XI).
O estagirita operava uma distinção (Livro VII) entre o vicioso e o destemperado. O primeiro agia em função de uma escolha deliberada, o segundo era um doente. O dictat clínico da cultura ocidental juntou os drogados nos dois mundos da Retórica: por um lado considera-os doentes, por outro percebe-os como viciosos incorrigíveis. No meio tratou-os (e ainda trata) como criminosos.
Tocqueville e Spooner interessaram-se muito pelo código penal do Connecticut, um texto de 1650 com artigos cada vez mais actualizados na altura em que eles… se interessaram. Uma criança era considerada apta a entregar a sua virgindade, mas ninguém, fosse qual fosse a idade ou género, possuía o discernimento suficiente para lhe ser confiados a compra e o governo pessoais de um copo de álcool.
Os primeiros movimentos americanos da Temperança, sobretudo a WCTU (Women’s Christian Temperance Union) e a ASLA (Anti-Saloon League), fundadas em 1874 e 1853, atacavam o álcool não por motivos clínicos mas porque o associavam à pobreza e à indigência moral. Aqui não havia o acento racista ou imperialista. As vítimas eram também brancos e europeus (irlandeses, italianos, polacos etc.). A raiz cresceu e, como sabemos, acabou na Lei Seca: o Volstead Act em 1919. Ora, o que nessa altura também acabou, obviamente, foi a narcotic clinic era – os programas terapêuticos de tratamento de dependentes de opiáceos e de cocaína. Supervisionados pelo comissário da Saúde de Nova Iorque, a Worth Street Clinic tratou, nesse ano, 7464 adictos (Musto, D.F., The American Disease: origins of narcotic control, 1999, Oxford UP). Foi tudo pelo cano abaixo.
Parece que a política de intoxicações cometeu o tal erro colossal com a emergência do LSD: o assunto tornou-se uma doença da juventude. Parece, apenas, porque os erros já vinham de longe, como vimos. Aprendemos com Baudelaire, Pessoa, Junger, que este é um assunto de adultos, aliás, até ao flower power era um assunto quase exclusivo de adultos. A histeria americana proibicionista dos anos 60, para além de ter feito uma publicidade magnífica ao dr. Leary e ao seu LSD, travou o que poderia ter sido uma política inteligente. Um exemplo: em Inglaterra, até 1964, a prescrição médica de heroína era autorizada sob controlo do Home Office: nesse ano contavam-se 364 adictos inscritos.
A intoxicação (salvo o álcool), até à apropriação tecnológica pelo ocidente imperial e colonial (aqui sim), era um affair tradicional, ritualizado e bem assimilado. Quando Albert Niemann pega na ancestral folha de coca, deita fora celulose, vitaminas, sais minerais, açúcar e quase uma vintena de outros alcalóides e exige apenas a síntese da cocaína, está a obliterar séculos de tradição. Os nativos dos Andes amassam as folhas numa bola (não as mastigam, ao contrário do que se diz) e colocam-na ao canto da boca. Depois adicionam um aditivo alcalino (casca de árvore, conchas moídas etc.) e só então as propriedades psicoactivas da coca são libertadas.
Florence Nightingale usava a morfina para recuperar das suas rondas da candeia a tratar dos doentes. Numa carta a Harriet Martineau, em 1866, escreveu: “Alivia por 24h, mas não melhora a vivacidade nem o intelecto de uma pessoa” ( E. Cook, The Life of Florence Nightingale, 1913, McMillan 1943).
Nightingale, nessa carta, referia a nova moda de injectar (“a curious new-fangled little operation of putting opium under the skin“). Serturner, em 1805, obtinha um sal cristalino do ópio e deu-lhe o nome de Morphium, de Morfeu. Dois anos antes, Charles Derosne também tinha isolado o mesmo alcalóide: ficou conhecido como o sal de Derosne. Em 1836, a morfina já aparecia na London Pharmacopoeia.
O resto também é conhecido. Pravaz e Wood (1853-1855), quase simultaneamente, inventam a seringa hipodérmica. A mulher de Wood morreu dependente de morfina. O que nos traz ao ponto pretendido: nessa altura, a medicina acreditava que a adicção ao ópio (que já vinha do láudano) seria resolvida se em vez de ingerida a droga fosse injectada (Hodgson, B., In the arms of Morpheus: The tragic history of laudanum, morphine and patented medicines, Firefly Books, 2001).
Como sabemos, a previsão estava errada. A história das drogas está repleta de previsões erradas: a pior foi a do sucesso da proibição.
Ora regressemos a Chet Baker. Um músico genial que foi obrigado a viver como um bandido porque precisava de uma substância psicoativa. Nunca molestou ninguém, nunca roubou ninguém. Podia ter tido acesso à sua dose e ter feito a sua vida. Como ele, milhões de pessoas podiam ter tido uma vida menos sofrida. A história recente das intoxicações, às cavalitas na proibição, é uma história criminosa.