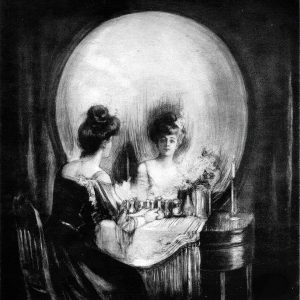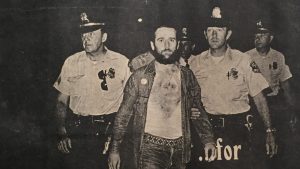1. A certa altura do governo Sócrates, por via das robustas bolsas INOV-Art*, houve debandada de jovens do setor cultural. Como o país não tinha (tempo verbal hesitante) muito para oferecer a esta gente, a atriz Beatriz Batarda esteve bem quando, no lançamento oficial do programa, aconselhou os bolseiros: “Vão e não voltem”. Então, de Nova Iorque ao Cairo, em versão culti do programa “Os Portugueses no Mundo”, ei-los que partiam novos, e de facto não regressaram, construindo as suas redes e carreiras no estrangeiro. Com os INOV, apelava-se ao empreendedorismo, capitalizando o nome de Portugal através da emigração qualificada, incentivada a sair. E é assim que, em 2009, despacho malas para trabalhar em Maputo, no Dockanema, um festival dirigido por Pedro Pimenta com o melhor cinema documental que se fazia em África.
2. Nos primeiros meses, partilhei casa com três companheiros de vida e aventuras. Era um apartamento no ph 4 da Coop, junto à rotunda da Organização da Mulher Moçambicana, entre as avenidas Lenine e Kenneth Kaunda. Alugámo-lo vazio e ficou-se pelo essencial: camas, uma mesa de jantar e cadeiras, a certa altura um sofá. O meu quarto tinha uma bizarra alcatifa em país tropical. Saudades do despojamento, em que a mente repousa nas paredes nuas! Vivíamos momentos de filme, em quadrilha, conversávamos profusamente, mas havia silêncios apreciáveis. Suspirava-se, amuava-se, laranjas matinais espremidas uns para os outros e torradas barradas com abacate. A rapariga cortava o cabelo aos rapazes, um deles varria, metódico na arrumação. Mayra Andrade ecoava pela casa. Por vezes, eu boicotava o espírito comunitário passando horas a tagarelar no transatlântico skype. Tanto lia vagarosa como trabalhava maningue para cumprir deadlines de cinquenta mil jobs.
Dez anos antes do falecimento de Mugabe, e dois após o homem no poder (há quatro décadas) ter vindo à cimeira UE-África, onde com esses e outros amigos pichámos nas paredes de Lisboa frases como “Esta Cimeira cheira a Água-de-Colónia”, encontrava-me, prazerosa, num escritório na avenida Zimbabué, comprometida em tarefas de comunicação, catálogo e um pouco de programação do Festival.
Acabara de viver uns anos, demasiado intensos e gravados no corpo, em Luanda e fazia aqueles exercícios idiotas de comparação: Maputo mostrava-se bem diferente da energia, louca e extravagante, tudo ou nada, sempre a subir, da capital angolana; a cidade era muito mais tranquila e arranjada; a universidade Eduardo Mondlane mais capacitada do que a Agostinho Neto, onde dera aulas; os moçambicanos tímidos e subservientes, aproximando-se devagar, menos ostentação e ilusão de riqueza, sem o altivo e desafiador “Xé! Tá a brincar ou quê?” mangolê; a cena artística com as suas demandas, temáticas e nichos de mercado nada semelhantes entre ambas as cidades; metade do orçamento anual de Moçambique proveniente de doadores, Angola em força na monocultura do petrodólar. Não havia dia que não sentisse que a banda era mais a minha praia, não pelos motivos acima, digamos que Angola se tinha tornado uma segunda casa e matéria de constante reinvenção. Certamente não faz sentido comparar costa e contracosta, cultura atlântica e índica, ocidente e oriente, um montão de nações e línguas dentro de fronteiras, colonialismos portugueses com diferentes orientações, geopolíticas e sub-regiões distintas, e por aí vai.
Mas, apesar disso comparando, as hierarquias raciais pareciam-me muito mais convocadas em Moçambique. De modo simplório e certamente injusto para muita gente – perdoe-nos o sonho de uma sociedade socialista não-racista de Samora –, saltava à vista na configuração racial de classes: os brancos, espectros coloniais e expats, carteiras ambulantes a enxotar pedintes; no comércio, indianos e libaneses como patrões; fora casos raros e a elite ligada ao poder, a maioria dos negros encontrava-se em desvantagem socioeconómica.
Conheço as razões para se chegar aqui, mas não deixo de lamentar ser ainda assim. Ou, como dizia um cartaz na fronteira entre Moçambique e África do Sul: “Lá porque a pessoa se acostuma a um problema não quer dizer que ele deixe de existir.”
3. E lá ia explorando a cidade, descendo avenidas retas e largas (no início da urbanização, largas o suficiente para passarem carros de bois), curiosa com a arquitetura moderna tropical e os apelos sensoriais, as acácias rubras que vieram de Madagáscar, os modos de vida e de felicidade de mais uma incrível capital africana. Um “caos organizado e engenhoso”, nas palavras do arquiteto ganês Kobina Banning que quis apreendê-lo, ao caos, para o projetar no futuro.
A primeira visão seria turística: os edifícios, teatros e cinemas, ruínas de piscinas coloniais, os restaurantes da feira popular, as mesquitas com os cinco salás diários, o bazar labiríntico, em ferro importado da Bélgica [tal como a Casa de Ferro, desenhada por Gustave Eiffel em 1892, desapropriado material para o calor da terra], os alfaiates nas ruas a aviarem camisas de capulana. O poeta e político Marcelino dos Santos à minha frente a levantar dinheiro no shopping. O circuito de arquitetura do Pancho Guedes. Os animais embalsamados no Museu de História Natural, 200 mamíferos, 10 mil aves, 170 mil insetos, 1250 invertebrados e 150 répteis, sendo o ex-libris da exposição os famosos fetos de elefantes até ao 22.º mês de gestação, conservados em formol. Quem quiser que se informe sobre a história de como aqueles fetos foram ali parar.
No livro Afrotopia, Felwine Saar identifica o palimpsesto como a característica mais marcante das cidades africanas[1]. E em Maputo, de facto, sente-se a influência sul-africana, na língua (para além do poliglotismo de línguas nacionais, surpreende o domínio do inglês e a sua contaminação no português), no legado discriminatório do recente apartheid e na sofisticação da cidade. [À pala da Commonwealth, levei algum tempo a salvaguardar o meu corpinho de ser atropelado pela condução à esquerda.] Vêem-se, a olho nu, as camadas da história, por exemplo na estatuária: Os olhos coreanos da figura gigante de Samora Machel, na Praça da Independência, mostravam as “relações Ásia–África”. Na Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, tanto se guardam os restos mortais de Ngungunhane, como se fazem fotografias de casamentos na estátua de Mouzinho de Albuquerque. Também se percebe a história pela toponímia. Pus uma foto no Facebook da placa que cruza a avenida Karl Marx com a Fernão de Magalhães. Legenda: “Estudos Pós-Coloniais, uma síntese”. Ou “Guerra Fria”, quando atravessava a Patrice Lumumba para chegar à Ho Chi Min.
Ali perto, num quintal de festas memoráveis, morava a atriz Hermelinda Simela, pessoa luminosa que faleceu no ano passado no parto da segunda filha. Dor, dor e mais dor. Raiva e mais raiva pela sua morte, e pelas inúmeras vidas ceifadas às mulheres para quem parir continua a ser um ato extremamente perigoso. Há lá acontecimento mais ironicamente violento!
A energia de Hermelinda era a bitola da intensidade com que o convívio se dava. Cabeça na barriga uns dos outros, ao domingo, nas areias da Costa do Sol. Os tachos a arrefecer na mesa, arroz colado e fumo de cigarros no prolongamento das temáticas. Garrafas de Laurentinas a exaltarem intervenções anticapitalistas. As nossas vozes e risotas perdidas em barracas e bares “fim-de-linha” pela cidade, como o Cartão Postal e a sua podre casa de banho. Os bares dreads, frequentados por rastas e loiras e morenas das ONG, os cafés sem álcool geridos por muçulmanos. As ruas patrulhadas por “cinzentinhos”, polícias a pedir “refresco” (pequena corrupção), com quem batíamos argumentos num considerável grau de surrealidade, negociando princípios e meticais.
Nos ambientes da elite maputense, pedaço de bem-estar entre um enorme mar de gente empobrecida, o charme discreto da burguesia global, que outrora terá sido a do Hotel Polana, atuava em esplendor. Chá de gengibre, vinho sul-africano, matapa de caranguejo e tarte de maçã. A noite anterior no bar Coconuts e as doenças nos subúrbios eram comentadas com a mesma indiferença.
Maputo é cidade musical. Inclusive tomei gosto pela prática amadora de djaing por lá, inicialmente como dj Butterfly, mais tarde Dama di Gueto. Para quem estava a fim, havia música ao vivo noite sim noite sim, no Gil Vicente, no Mafalala Libre, no Franco-Moçambicano. Os eletrizantes Timbila Muzimba, a marrabenta modernaça de Stewart Sukuma, os concertos de hip-hop sempre fervilhantes e a abarrotar, que facilmente viravam comícios políticos. Azagaia acabava de lançar o “Combatentes da Fortuna” e batia de frente com o poder [Vocês não são libertadores, são combatentes da fortuna / E a liberdade existirá até onde for oportuna]. Num concerto no África Bar, o mantra de um coro indignado perguntava, em crescendo: “Quem vendeu a minha pátria? / Quem vendeu a minha pátria?”. Pouco mais tarde, o rapper seria preso por alegada posse de suruma. Um recado para quem ousasse criticar o poder.
4. Conto um episódio de uma noite impressionista. Podia começar assim: Três expats da construção civil entram no bar. Luz baixa, bola de espelho no palco, imagens em néon da Torre Eiffel e da Estátua da Liberdade. Um dos bares de putaria no Bagamoio, ou rua Araújo nos tempos, cujos prazeres devem ter ficado no coração de muitos forasteiros, colonos e soldados tugas, assim como uns quantos filhos por perfilhar! Eu já tinha topado aquele grupo a lambuzar-se de camarões tigre e lagosta no mercado do peixe. Depois do bitoque e cervejas…, não posso precisar porque estou a efabular o que fizeram antes de entrarem no bar. Mas vamos. De banhinho tomado, perfumados, t-shirts e calças de ganga…, entraram e sentaram-se em mesas circulares e recolhidas. Mandaram vir bebidas e meninas. Cada menina dirigiu-se ao seu homem da noite que, de braços secos e mãos sapudas, enrolaram a cintura de meninas saídas de fotografias de Ricardo Rangel. Barba rala, barrigas de Albufeira, lubricidade boçal, as suas mãos continuavam a longa história de opressão: tal como os roceiros com as serviçais, tal como os senhores e as escravas, tal como o pai de família e a criada, tal como o soldado e a camponesa adolescente, aliciava-os o poder sobre o corpo da mulher negra. A seu favor, os clássicos fatores: a mercantilização das mulheres, o dinheiro no bolso, o estatuto que os brancos ganham nas Áfricas. Tudo os ajudava a esquecerem de onde vinham e as suas vidas ignóbeis.
Observava as meninas, com os versos de Noémia de Sousa ressoando na minha cabeça. Uma projeção. “Viemos Fugitivas das Munhuanas e dos Xipamanines, viemos do outro lado da cidade com nossos olhos espantados, nossas almas trançadas, nossos corpos submissos e escancarados. De mãos ávidas e vazias, de ancas bamboleantes, lâmpadas vermelhas se acendendo, de corações amarrados de repulsa, descemos atraídas pelas luzes da cidade, acenando convites aliciantes como sinais luminosos na noite.”
Estranham a nossa presença no bar. Eu estava com uma amiga, duas raparigas que, dava para ver, não éramos prostitutas. O nosso olhar de desprezo incomodava-os.
Entretanto, os números de cabaret sucedem-se. E chega a vez de uma mulher vestida de enfermeira, gingando, convida um desses homens a subir ao palco. Ele sobe, contrariado, a mando do encorajamento dos colegas. A stripper “enfermeira” senta-o numa cadeira e ata-o ali mesmo, a assistir à cena, enquanto se vai despindo para ele. Uma vez nua, a stripper faz o pino e abre as pernas de cabeça para baixo. Depois, para nosso grande espanto, coloca uma vela na cona e salta aos pinotes até ficar com as pernas coladas à cara do homem. Ele tinha de lhe acender a vela – era a sua missão e parte do jogo. Atarantado, tira o isqueiro do bolso e incinera a vagina-performer.
A música e as palmas foram apoteóticas. O homem não se iria esquecer daquele momento quando mais tarde contasse os tempos “lá na África”.
Podia fazer uma tese sobre as relações de poder e sexo, sempre interligados, nestes cenários eróticos. Podia falar, sem ceder a moralismos, sobre a instrumentalização do desejo, sendo as meninas também agentes da troca de interesses. Como outrora, o jogo é o do dominado e dominador, mas a cegueira do desejo permite, de vez em quando, alternar os agentes desse velho jogo.
Fico-me por estas observações empíricas.
5. Durante o Dockanema, que me levara a Maputo, entre dezenas de documentários e documentaristas, os problemas e encantos de África foram discutidos no ecrã e ao vivo. Organizei o ciclo “E agora… vamos fazer mais como?”, de Ruy Duarte de Carvalho, e ele veio mostrar os seus filmes, contente por regressar, 40 anos após ter trabalhado na fábrica da cerveja Laurentina. Dali partiríamos, com o seu filho e amigos, para uma viagem de muito assunto pela África do Sul.
Entre residentes e viajantes, foi um privilégio ver e discutir filmes em Moçambique, caso excecional de cinema no pós-independência. Quando se idealizou, se pôs no ecrã as províncias, os modelos de sociedades, as culturas, o socialismo, as dores da guerra, o experimentalismo formal e o cinema engajado. Quando se andou de norte a sul a mostrar os moçambicanos aos moçambicanos. E muitos utópicos do mundo visitaram o país, desde brasileiros como Ruy Guerra e Licínio de Azevedo (agora moçambicano) a Jean Luc Godard (cuja experiência não correu nada bem) e Jean Rouch. A fasquia alta desse período, quando se valorizava o enorme poder da imagem, parecia longínqua (conheci algumas figuras dessa geração e ouvi as suas histórias em direto), mas o Dockanema trazia a vibe do que as novas gerações faziam pelo continente, e isso contagiava.
6. Mudei de casa, para um 19.º andar da avenida 24 de Julho. De início, a casa era acolhedora apesar do vento e da cinza que ardia nos olhos à varanda. Observava qualquer coisa desdobrando-se entre os telhados e o céu. A súbita passagem dos mornos pores do sol ao manto da noite apagando o mar lá ao fundo. O meu espírito acompanhava, encolhendo-se, o devir doce-dramático. Na varanda, li o Ualalapi, de Ba Ka Khosa. No imenso império de Gaza, um Ngungunhane sanguinário, violento e tirano para o seu povo assim como os colonizadores portugueses sanguinários, violentos e tiranos para o mesmo povo.
Olhava o Índico e pensava na sabedoria acumulada nas suas águas e nos 2500 quilómetros de costa, parte dos quais iria percorrer… Mais tarde, iriam ser-me reveladas a elegância das praias, as histórias das cidades médias, as povoações de estrada na condição de passagem; as maravilhas da floresta, do mangal e dos inselbergs; o poder da religião; os conflitos de Cabo Delgado; a guerra dos recursos como o gás; a ameaça do land grabbing para os pequenos produtores; a amabilidade das pessoas rurais; as consequências das alterações climáticas no litoral de um país que em nada contribuiu para a destruição geral.
Ainda não conhecia a diversidade cultural, étnica, linguística e natural de Moçambique. Por enquanto, concentrava-me em Maputo e passeava pela township com um amigo maputense, nascido em Vilanculos, que generosamente me mostrava a vida desses lugares. Talvez ingenuamente achasse que, pulando a linha colonial entre asfalto e caniço, ficava a conhecer segredos da cidade. De sorriso maroto, rabugento-cómico, o amigo contava-me do pai austero, dos seus deveres e baldas à igreja, das ideias mirabolantes para a videoarte e, sobretudo, conseguia fazer-me rir (boa disposição, no top 3 do que valorizo nos outros). Ele era querido e não meloso, autêntico como criança excitada com bolo de chocolate, além de possuir uma singular expressividade. “Um dia geometricamente geográfico haverá na interseção uma concordância”, escreveu-me em jeito de declaração. Passeávamos no Jardim Tunduru que, como todos os jardins botânicos, convidam a namorar. O Tunduru, “pese embora o seu estado um pouco degradado, foi criado pelo mesmo paisagista inglês dos jardins do rei da Grécia e do sultão da Turquia”, contava o meu amigo. Dormimos umas quantas vezes agarradinhos, descolados de madrugada para ver a cidade matutina a acontecer. A última vez em que passeámos juntos, atravessámos Catembe contornando alguidares de camarão no embarcadouro à despedida. Os omnipresentes cartazes da Frelimo observavam-nos. Sempre iguais, sempre chatos: vermelho, maçaroca, cara do presidente, Frelimo fez Frelimo faz.
7. Encontrei-me com jovens ativistas para uma reportagem sobre a independência de Moçambique (daqui a dois, são já os 50 anos). Combinámos no Parque dos Continuadores, Mártires da Machava. Entre as várias simbologias do lugar, foi ali que alvejaram o jornalista Carlos Cardoso em 2000, dentro do automóvel. Apontamentos sobre a conversa: O momento da bandeira de Portugal a cair e a de Moçambique a erguer-se no 25 de Junho de 1975, sob o olhar vivo e cheio de futuro de Samora Machel, logo assassinado aos 53 anos. Idealizam o líder, que dedicou a vida à libertação do povo, a sua vontade de fazer da educação a base para o povo tomar o poder. Por outro lado, consideram a história demasiado centrada na luta de libertação e que põe de fora quem não participou. Quando os movimentos de libertação abandonaram o espaço público, criado no contexto colonial, e se assumiram como partidos, perderam o lado revolucionário e o pendor mais popular. Desacreditam os políticos atuais. O país estende a mão e parece que só pelo roubo se consegue ascender. Queixam-se de ainda sofrer as consequências de uma razia à memória cultural coletiva (como o X de Malcolm simboliza o nome africano dos seus antepassados que o opressor branco apagou). Que a falta de autoestima dos africanos se deve à ausência de conhecimento da sua história pré-colonização, encerrando-os na visão dos colonizadores, etnocêntrica e carregada de política, sem referências às realizações africanas. Que é preciso questionar as “verdades” impingidas acriticamente na sala de aula, onde a história começa, lá está, quando chegam os portugueses. Apontam-se o dedo a si mesmos, juventude adormecida, vinga quem dá graxa ao governo. Querem mais companheirismo, não gastar energia com inimigos errados. Os pais e tios não querem sair dos cargos instalados, desvalorizam-nos, repetem-lhes que ainda não chegou a sua hora. Sabem que é preciso ler o mundo à sua volta e interpretar as transformações para projetar um futuro menos vazio. Lutam pela liberdade de expressão, ainda muito condicionada. Às tantas, alguém diz:
– Mana, só há independência quando brancos, mestiços e negros varrerem as ruas.
Onde é que já ouvi isto?
14 anos depois, as coisas terão mudado. Recupero esta conversa pela importância de documentar como pesavam e se pensavam essas heranças. “Alimentar-se do passado para melhor seguir em frente”, como indica o termo sankofa que li no Felwine Saar. Penso que se aplica a esta urgência de identidade própria. Deixar de mimetizar, romper de vez com o que nesse passado ainda vai prendendo tanto potencial.
8. Para mim, Maputo foi a importante constatação de que ainda estava tudo por entender e desconstruir para me situar na contemporaneidade africana. Depois de ter vivido em Cabo Verde e em Angola, passei uma temporada em Lisboa. Não era ainda o tempo de voltar a mergulhar na terrinha de onde parti. Desinteressava-me o ambiente carreirista ou de desenrasca, sem olhar acima do seu quotidiano. Não compreendia ainda o que me acontecera, nem sabia o que fazer com a experiência acumulada. Não adianta tentar explicar as vivências noutro país, é como contar como é a vida noutro planeta. Para as pessoas tanto faz, pode existir como pode não existir, não estavam lá. À mesa de uma imperial, referimos fait-divers, a situação política, económica, pormenores culturais, mas a grande riqueza das experiências fica assim a boiar, patética, dentro de nós, como testemunhas de sonhos e alucinações. Fica no nosso modo de viver, depende de nós salvaguardar todas as pessoas que vamos sendo, ou saber ir largando as peles velhas debaixo das pedras.
Maputo deu-me novo arranque, na fezada do INOV-Art (salve!). Entretanto, voei ao Rio de Janeiro para sondar mudar-me para lá. No regresso, trouxe duas garrafas de cachaça velha, embrulhadas em cuecas. As garrafas ter-se-ão partido durante a viagem e o líquido espalhou-se impiedosamente. Percebi o estrago mal cheguei ao Aeroporto Internacional de Mavalane quando me mandaram abrir a mala. O fiscal deu um valente pulo para trás assim que lhe chegou ao cérebro o cheiro a cachaça, que levou semanas a evaporar da minha roupa, ganhando a alcunha de cachacheira.
__
*INOV-Art foi um programa (2009 a 2011) de estágios internacionais para jovens, no domínio cultural e artístico, criado com o objetivo de promover a sua inserção no mercado de trabalho.
[1] ”Cidades de palimpsestos, no centro das quais vários movimentos, várias camadas, vários estratos foram sobrepostos e sedimentados. Essa parece-me ser a característica mais partilhada pelas cidades africanas. Ao passar por elas, apesar da sua diversidade, o que sentimos antes de mais é densidade, uma intensa energia circulante, uma vitalidade transbordante, um dinamismo, um zumbido, uma criatividade, mas também um caos, um congestionamento, uma estreiteza, um esgotamento, uma indecisão quanto às suas formas futuras, às vezes incongruência, uma contemporaneidade de vários mundos; várias épocas nelas se cruzam, vários estilos arquitectónicos, várias formas de habitar o espaço público, entre a cidade e o campo, entre o acaso e o fim…” in Afrotopia, Felwine Sáar, Antígona, 2022, p. 131 (minha tradução).
_
Imagem de destaque: © Lara Longle