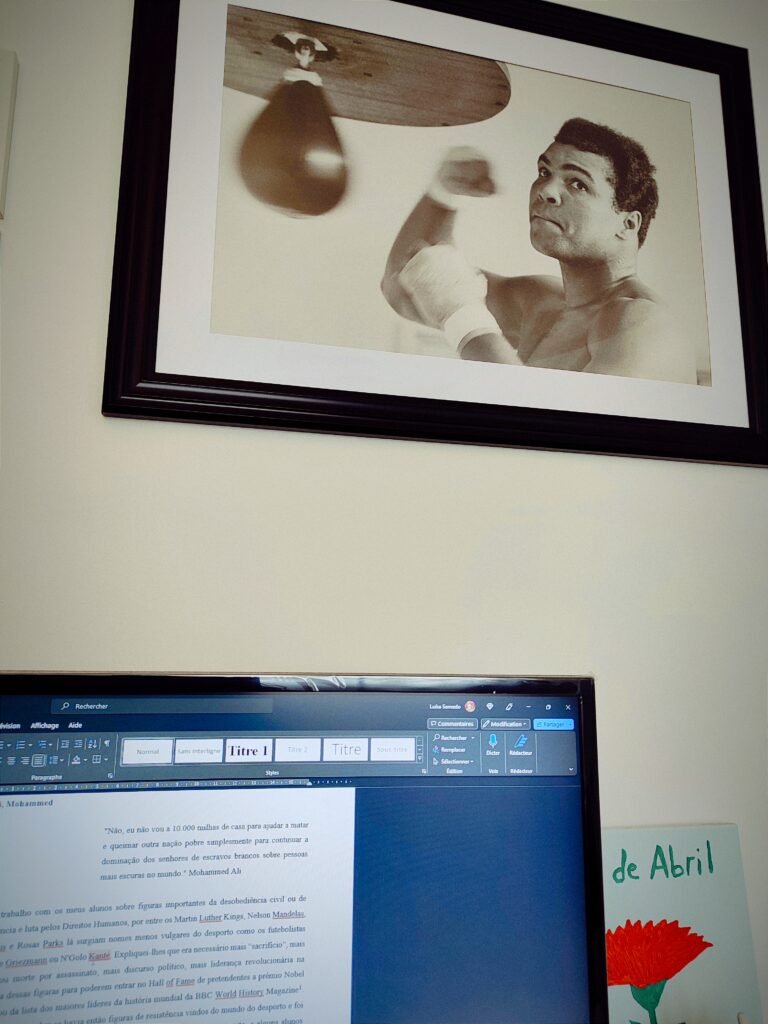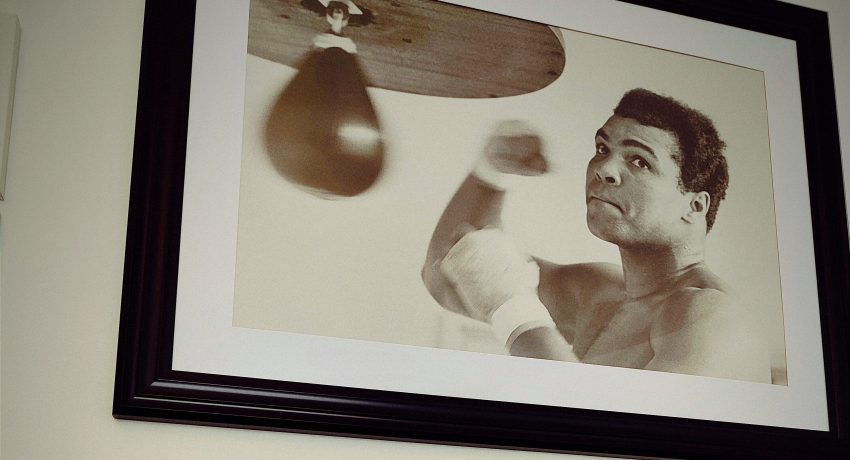A (cont.)
Ali, Mohammed
“Não, eu não vou a 10 000 milhas de casa para ajudar a matar e queimar outra nação pobre simplesmente para continuar a dominação dos senhores de escravos brancos sobre pessoas mais escuras no mundo.”
Mohammed Ali
Num trabalho com os meus alunos sobre figuras importantes da desobediência civil ou de resistência e luta pelos Direitos Humanos, por entre os Martin Luther Kings, Nelson Mandelas, Gandhis e Rosas Parks lá surgiram nomes menos vulgares do desporto como os futebolistas Antoine Griezmann ou N’Golo Kanté. Expliquei-lhes que era necessário mais “sacrifício”, mais prisão ou morte por assassínio, mais discurso político, mais liderança revolucionária na biografia dessas figuras para poderem entrar no Hall of Fame de pretendentes a Nobel da Paz, ou na lista dos maiores líderes da história mundial da BBC World History Magazine. Gerou-se debate sobre se havia então figuras de resistência vindas do mundo do desporto e surgiu o nome de Mohammed Ali. Aceitei desde logo a proposta, e alguns alunos trabalharam sobre a sua biografia e o seu discurso político. Esqueci que eu própria tenho uma grande foto do Ali na minha parede por detrás do meu computador, e que enquanto escrevo estas linhas o “The Greatest” está à espreita. Mohammed Ali nasceu em 1942 em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, morreu em 2016 aos 74 anos; não foi assassinado, mas colocou em perigo a sua carreira pelas suas convicções. Depois de ter ganhado o título de Campeão do Mundo de boxe em 1964 converteu-se ao islão e decidiu abandonar o seu “nome de escravo” Cassius Clay. No auge do seu estrelato depois de já ter sido consagrado campeão do mundo pelo terceiro ano consecutivo, em 1966, decidiu ser objetor de consciência e recusou participar na guerra do Vietname. Estabeleceu uma ligação entre a luta das pessoas negras nos Estados Unidos com a luta de todas as pessoas não brancas no mundo. Defendeu que não iria largar bombas e balas em pessoas de cor no Vietname “enquanto os negros em Louisville são tratados como cães a quem são negados simples direitos humanos”. Tinha consciência dos riscos incorridos: “Fui avisado que tomar tal posição me custaria milhões de dólares. Mas eu já o disse uma vez e vou dizê-lo de novo. O verdadeiro inimigo do meu povo está aqui. Não vou desonrar a minha religião, o meu povo ou a mim mesmo tornando-me uma ferramenta para escravizar aqueles que lutam pela sua própria justiça, liberdade e igualdade. Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade para 22 milhões do meu povo, não teriam de me recrutar, eu juntar-me-ia amanhã. Não tenho nada a perder ao defender aquilo em que acredito. Então, irei para a prisão, e depois? Já estivemos na prisão durante 400 anos”. Foi condenado a 5 anos de prisão e a 10 mil dólares de multa, apesar de ter ficado em liberdade enquanto esperava pelo resultado do recurso da sentença, perdeu a licença para poder lutar/trabalhar e perdeu o seu título de campeão mundial. Alguns anos mais tarde, em 1970, conseguiu recuperar a licença e em 1971 o Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou a sua condenação por objeção de consciência.
O debate sobre a implicação política de desportistas continua atual, como por exemplo a participação de futebolistas no Mundial de Futebol no Qatar em 2022. Mohammed Ali não hesitou em utilizar a sua notoriedade para fazer valer os seus valores humanistas, antirracistas e anticolonialistas. As reabilitações e os louvores unânimes de figuras importantes de resistência ou de desobediência civil são muitas vezes tardios. Apesar da contestação da altura e das críticas de antipatriotismo, Ali é hoje celebrado como um herói.
Aliada
(…) devo confessar que nos últimos anos fiquei gravemente desapontado com o branco moderado. Cheguei à lamentável conclusão de que o grande obstáculo do negro em direção à liberdade não é o White Citizens’ Councils ou o membro do Ku Klux Klan, mas o branco moderado que é mais devoto à ordem do que à justiça; que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que é a presença de justiça; que constantemente diz “concordo com o vosso objetivo, mas não posso concordar com os vossos métodos de ação direta”; que sente paternalisticamente que pode estabelecer o cronograma para a liberdade de outro homem; que vive pelo mito do tempo e que constantemente aconselha o negro a esperar por um “momento mais conveniente”.
Martin Luther King, Carta da Prisão de Birmingham, 1963.
Uma pessoa aliada é aquela que não é o alvo direto de um sistema de opressão ou discriminação, mas que utiliza os meios que tem ao seu dispor para ser solidária da causa. É, portanto, uma aliada, por convicção e não por condição. Existe todo um espectro de pessoas aliadas, desde as que tomam verdadeiros riscos e se sacrificam por uma causa, até às que pensam que basta anunciar: “sou feminista, tenho uma mãe e filha mulher”, “sou antirracista, tenho um amigo negro” ou “sou pró-LGBT, vi as sete temporadas do “Orange is the New Black”.
A pessoa aliada é essencial em causas que muitas vezes dizem respeito a minorias. Sem ela as vozes dessas minorias teriam um alcance muito mais reduzido. As pessoas aliadas foram ao longo da história figuras muito relevantes e por vezes decisivas nas grandes transformações progressistas. Também as podemos encontrar em minorias que defendem os direitos de um maior número como, por exemplo, as mulheres lésbicas que lutaram pelo acesso à contraceção ou à IVG, como relembra Alice Coffin no seu livro “O génio lésbico[1]”.
No entanto, por vezes, existem pessoas que se autodenominam como “aliadas”, mas são um empecilho para a causa que pretendem defender, pensam poder falar em nome das pessoas diretamente afetadas, pensam poder dirigir a maneira como devem fazer a luta, e se esta não for feita nos seus termos, com o seu vocabulário, no seu timing, com o seu método dizem coisas do estilo, “assim não dá para apoiar a causa”. São pessoas que confundem, portanto, os indivíduos com as causas, e se o desacordo com os indivíduos as desmobiliza da causa é porque não a levam a sério. Estar em desacordo com métodos não é razão suficiente para a desmobilização de uma causa, e existem várias formas de se ser solidário. Para além disso, esperar perfeição de indivíduos ou de coletivos para poder ser solidário com a causa que defendem é simplesmente impossível.
Quando a pessoa aliada se preocupa mais com os indivíduos do que com a causa, geralmente também se preocupa mais com a sua própria reputação. Por isso, leva tão a peito toda e qualquer crítica contra si, contra o poder hegemónico, contra o patriarcado, contra o racismo sistémico, etc. sentindo-se na obrigação de fazer um historial de todas as suas façanhas pela causa. É possível que diga a uma pessoa racializada num misto de raiva e de mágoa “ainda não tinhas nascido e já eu pagava as cotas da SOS Racismo”. Por vezes, prefere priorizar a possível inocência de um predador sexual do que lutar contra a descredibilização sistemática do testemunho de mulheres violentadas ou o nível absurdamente baixo de condenações por violação. Utiliza frases que se transformaram em slogans ou hashtags como “nem todos os homens” ou “todas as vidas importam”, “eu não sou racista, mas”, “eu não vejo cores”, “a elite negra”, “isso agora é moda”, “eu não sou homem, sou humano”, “eu não sou branco, sou humano”, “o que se passa na cama das pessoas não é da nossa conta”. Robin DiAngelo fala de “fragilidade branca” no que toca às questões raciais, mas o mais adequado para caracterizar os falsos aliados em geral é o egocentrismo, o capricho e a teimosia. Não querem compreender a diferença entre “aprender sobre” e “viver”, nada lhes pode escapar, querem ter a fama sem ter o desproveito, por isso podem dizer coisas do estilo “somos todos negros, vimos todos de África”. A pessoa aliada esquece que pode sair a qualquer momento da causa, a pessoa visada não pode sair nunca, não tem esse privilégio porque é da sua vida que se trata. Isso não significa que a pessoa visada seja uma especialista ou uma expert na matéria, mas sabe coisas que a pessoa aliada nunca poderá saber da mesma forma, como, por exemplo, o que se sente quando não se consegue um emprego ou arrendar uma casa por causa de ser quem é, ou melhor, por causa da visão discriminatória que a sociedade dela tem.
O falso aliado não gosta de ouvir, não gosta de aprender, pensa que a sua boa vontade é suficiente, apesar de muitas vezes fazer perguntas, para mostrar a sua abertura à formação sobre a causa, achando que as pessoas afetadas não têm mais nada que fazer. Por vezes nem se dão ao trabalho de consultar sites de associações feministas, antirracistas ou LGBT+ para se informar. O falso aliado faz as perguntas, mas não leva a sério as respostas ou nem sequer a ouve.
Estas pessoas constituem ainda um empecilho para a causa porque dão a impressão de que somos muitas a lutar com o mesmo objetivo, e quando nos deparamos com o inimigo decidem fugir ou juntar-se ao inimigo, deixando-nos desamparadas. Ora, diz o bom senso que quando “se vai para a guerra” é necessário conhecer bem as suas forças e adaptar a sua estratégia em consequência. Os falsos aliados estragam assim os planos. A um dado momento os falsos aliados vão preferir concentrar grande parte da sua expressão pública na crítica aos oprimidos do que aos opressores. E a fronteira entre falso aliado e opressor torna-se indistinguível.
Em contrapartida, os aliados genuínos sobressaem pela sua capacidade de escuta, pela sua inteligência social e empatia, pela subtileza do seu posicionamento, a compreensão do seu lugar, pela consciência da complexidade das questões em causa. E por isso, os aliados genuínos sabem que é necessário ler, ouvir e conversar mais e libertar-se de certas correntes por vezes (des)estruturantes. Não é fácil, mas é justamente na aceitação da dificuldade e na maneira de a ultrapassar que reside uma boa parte do mérito do aliado genuíno.
Amigo Negro
“Eu não sou racista, tenho amigos árabes, inclusive a minha melhor amiga que é chadiana e, portanto, mais negra que uma árabe!”
Nadine Morano, Entrevista France 5, 21/06/2012[2]
O “amigo negro” é uma figura importante para a pessoa que se pensa não racista ou aliada (ver entrada precedente), mas é também uma figura instrumentalizada para fins políticos. O “amigo negro” serve de totem, de escudo contra acusações de caráter ou comportamento racista. É a chamada “imunidade por proximidade”, uma espécie de amuleto de bolso disponível a todo o momento e que se ostenta, nas mais diversas ocasiões, como um certificado de boa reputação: “eu não sou racista, até tenho um amigo negro”. Esta figura serve igualmente para legitimar e reconfortar os seus próprios caprichos raciais: “o meu amigo negro não se importa que eu o chame de ‘preto’”, “o meu amigo negro acha graça a isso”, “o meu amigo negro não acha que isto é racismo”. Por vezes, quando se tenta saber mais sobre o tal “amigo negro” descobre-se que é uma pessoa com a qual se tem uma relação hierárquica, é por exemplo, afinal, a pessoa negra que “trabalha lá em casa”.
Normalmente, depois de dizer “eu tenho amigos negros” surge, como releva John Eligon no artigo do The New York Times “The ‘Some of My Best Friends Are Black’ Defense”, a frase “eu não vejo cores” como se tal fosse uma virtude. Ora, justamente, não ver cores significa que não se está a ver qual é a situação do amigo, como ele vive, qual o impacto que a cor tem na sua vida e o impacto que a questão da cor, a questão racial, teve e tem na sociedade. “Eu não vejo cores” pode ser a negação de uma parte importante da vivência do “amigo negro”, mas também a negação da sua própria cor e de como ela constitui um privilégio ou um não-obstáculo na sua vida. E, a verdade é que a pessoa até vê cores porque menciona a cor do amigo quando lhe dá jeito[3].
Outra frase típica, vizinha da do “amigo negro”, é a recorrente “no meu tempo dávamo-nos todos bem na escola, branco, preto, amarelo, gordo, magricela ou caixa de óculos, não havia cá problemas” esquecendo que talvez para alguns desses “amigos” a memória desses tempos não é a mesma, e que muitos ainda se lembram do número de vezes que se sentiram obrigados a dizer, de sorriso contrariado, “não levo a mal” ou os que mesmo já adultos vivem com o traumatismo de assédio escolar, que era e é invisível para quem diz não ver cores.
Considerar-se amigo de uma pessoa negra não implica deixar de a considerar como inferior. Podemos ter um alto nível de afeição pelos nossos animais de estimação, achar que fazem parte da família, chorar a sua morte e, no entanto, considerar que são inferiores. Seria ridículo se os homens que são violentos com as mulheres dissessem que não são machistas visto terem casado com uma mulher.
O “amigo negro” é muito cobiçado pelos partidos políticos, sobretudo os de extrema-direita que gostam por exemplo de exibir o seu “amigo” para mostrar que até são frequentáveis, e para fazer uma distinção entre o negro submisso e fofinho e o “preto mau”. Este “amigo negro” vai ser exposto e relativamente bem tratado até que mais cedo ou mais tarde virá a público romper com o partido e denunciar o racismo de que foi obviamente alvo e do qual só ele, até então, não tinha consciência.
O argumento da afeição, da familiaridade ou da proximidade não é, portanto, suficiente. Para além disso, o fenómeno do racismo não se pode resumir às relações interpessoais, existem questões mais profundas de ordem estrutural com impacto a nível institucional e societal e que mesmo a nível interpessoal resultam em mecanismos que são por vezes invisíveis. A educação, dizia o historiador Daniel J. Boorstin consiste em “aprender aquilo que nem sequer se sabe que não se sabe[4]”. E muitas vezes a única forma de saber que não se sabe é ter a humildade de saber ouvir quem sabe.
____
[1] Alice Coffin, Le génie lesbien, Paris, Grasset, 2020.
[2] Nadine Morano é uma eurodeputada francesa de direita, que já foi ministra e foi acusada de ser racista ao ter afirmado que partilhava com os eleitores da extrema-direita os mesmos valores ou ainda que a França é um país de “raça branca”.
[3] O tema da “cegueira cromática” (color-blind racism) será aqui desenvolvido numa entrada posterior.
[4] Citado por Debby Irving, Waking Up White: and Finding Myself in the Story of Race, Elephant Room Press, 2014.